Blog focado em Geografia e em fatos e notícias contemporâneas, que compõem as Atualidades.
sábado, 30 de dezembro de 2017
Número de moradores de rua dispara na capital da miséria dos Estados Unidos
Los Angeles registrou neste ano uma população de 58.000 pessoas sem teto, um aumento de 23%
Autoridades locais qualificaram situação de “emergência”
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/30/internacional/1514632186_267085.html
quinta-feira, 28 de dezembro de 2017
Política externa de Trump deixa os EUA em último lugar
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1946566-politica-externa-de-trump-deixa-os-eua-em-ultimo-lugar.shtml
ANÁLISE
AARON DAVID MILLER
RICHARD SOKOLSKY
DO "WASHINGTON POST"
28/12/2017 12h00
Ao concluir o discurso sobre segurança nacional que pronunciou no começo do mês, o presidente Donald Trump descreveu seu objetivo de política externa como "celebrar a grandeza americana como um exemplo reluzente para o mundo".
Não exatamente.
No final de seu primeiro ano no posto, a abordagem do presidente quanto aos assuntos internacionais não se encaixa na narrativa apresentada em seu discurso e, em lugar disso, se alinha a seis componentes que demonstram a visão de mundo de Trump no exterior: política importa mais do que estratégia, ditadores valem mais que democratas, América em primeiro lugar ("America First", um de seus lemas na campanha), aversão a riscos, desconstrução e ego.
Isso não constitui uma doutrina claramente definida, mas os componentes apresentam uma certa coesão — ao menos na cabeça de Trump— e indicam de que maneira ele deve operar pelo resto de seu mandato.
*
AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR
O ponto de partida de qualquer esforço para decodificar a política externa de Trump é compreender o que ele quer dizer com "América em primeiro lugar" —expressão que envolve menos um conjunto de regras do que um estado de espírito.
Na visão do presidente, os Estados Unidos vêm sendo prejudicados há anos por "acordos comerciais desastrosos", aliados parasitas e compromissos assumidos pela elite de Washington que arrastaram o país para guerras intermináveis e dispendiosas e para esforços de construção de nações que resultaram em uma deterioração da prosperidade americana, em um mundo selvagem e hostil como o que Trump descreveu em seu discurso de política externa.
A visão de mundo de Trump é bem parecida com a sua visão dos negócios —um jogo cruel em que, para que alguém ganhe, alguém precisa perder, os fracos existem para serem explorados, e só os fortes emergem como verdadeiros vencedores. Essas são opiniões que ele manteve por toda a vida; não são um arcabouço ideológico imposto a um presidente ingênuo em seu primeiro mandato por conta das manipulações de Steve Bannon.
América primeiro é só uma variação de Trump primeiro, e é por isso que a visão do presidente subordina o interesse nacional dos Estados Unidos a uma visão de mundo egoísta e singularmente inadequada diante dos complicados desafios que o país tem pela frente.
MAIS POLÍTICA QUE ESTRATÉGIA
Para compreender Trump, é útil vê-lo não como um presidente que chegou com uma proposta de política externa, mas como um estreante na política que está tentando fazer o papel de presidente na TV. Sua abordagem quanto à política externa é orientada pela necessidade de aplacar constantemente o eleitorado que o conduziu ao posto, e não necessariamente por metas que sirvam aos interesses estratégicos de longo prazo desses eleitores ou dos aliados dos Estados Unidos.
O guru ideológico do presidente, Steve Bannon, já não vive na Casa Branca, mas sua lista de tarefas —de "construir um muro na fronteira com o México e fazer com que o México pague por ele no futuro" a transferir a embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém— continua a ser prioridade.
Em fevereiro, o senador Bob Corker, republicano do Tennessee, disse ao site Politico que "em dado momento", Trump e sua equipe "estavam preparados para transferir a embaixada" a Jerusalém "no minuto em que tomassem posse" —uma decisão que teria parecido arbitrária então e que continuou a sê-lo quando o presidente a anunciou este mês, contrariando os conselhos de diversos assessores.
O abandono imediato da Parceria Transpacífico por Trump; sua decisão arbitrária de deixar o acordo de Paris sobre o clima; e as diversas versões de sua restrição à entrada de cidadãos de diversos países muçulmanos nos Estados Unidos são valiosos como gestos na direção de sua base, mas não têm valor como estratégia.
A retórica de campanha do presidente e sua determinação de ser o anti-Obama até agora vêm predominando e, com a aproximação das eleições legislativas de 2018 e da eleição presidencial de 2020, devemos esperar que os impulsos políticos de Trump cada vez mais se sobreponham à governança —no país e no exterior.
O EGO PRESIDENCIAL
Tony Schwarz, que coescreveu "A Arte do Acordo" com o presidente, afirmou este ano ano que "o senso de valor próprio de Trump está sempre em risco".
O presidente é propelido por profundas inseguranças e por uma necessidade descomunal de adoração e de brilhar mais que os outros, que esteve visível em seu discurso de aceitação da candidatura republicana, quando ele declarou que "só eu serei capaz de consertar" os problemas do sistema americano.
Isso também ficou perceptível em seu discurso sobre segurança nacional, quando ele declarou que "por muitos anos, nossos cidadãos assistiram aos políticos de Washington presidindo a uma sucessão de decepções".
Ele se considera o maior negociador do planeta, mas aliados e adversários já sabem como lidar com o presidente: se você adular e festejar Trump —como os sauditas e israelenses fizeram em sua primeira visita ao exterior, e como os japoneses e chineses fizeram em sua primeira viagem à Ásia—, ele se mostra maleável. Como exemplos, basta citar sua disposição de ignorar o registro atroz da Arábia Saudita quanto aos direitos humanos e a campanha militar do país no Iêmen, sua falta de pressão sobre Israel quanto às atividades de colonização indesejáveis, e sua decisão de não pressionar o Japão e a China quanto ao comércio internacional.
TRUMP, O DESCONSTRUCIONISTA
Apesar de sua fama como construtor, Trump se mostrou muito mais capacitado no ramo da demolição e do desmonte, e dedicou muito de seu tempo a desmantelar o que foi construído por seus predecessores —especialmente Obama—, sem oferecer alternativas viáveis para substituição.
Um exemplo importante é o acordo nuclear com o Irã, que tem falhas, mas vinha funcionando e é bem melhor do que não haver acordo.
Trump não explica a lógica e nem oferece detalhes específicos para sustentar sua afirmação de que o acordo com o Irã é "incompreensivelmente ruim", e diplomatas experientes já perceberem que ele não é grande coisa em criar acordos. Se não fosse por subordinados de cabeça mais fria, como o secretário de Estado Rex Tillerson e o secretário da Defesa Jim Mattis, Trump talvez já tivesse abandonado o acordo (e pode ser que ainda venha a fazê-lo), o que permitiria que o Irã avançasse a todo vapor com suas ambições nucleares e isolaria os Estados Unidos dos demais signatários do tratado.
AVERSÃO A RISCOS
É irônico que, para um presidente que deseja desesperadamente parecer durão e forte, Trump seja tão cauteloso e tão avesso a riscos quanto seu predecessor, quando o assunto é usar o poderio militar dos Estados Unidos.
Ainda que seu governo tenha recentemente anunciado a venda de armas "letais" que haviam sido negadas à Ucrânia por muito tempo, desafiando a Rússia, Trump, quanto a essas questões, é mais uma cópia de Obama do que o anti-Obama.
Apesar de toda a retórica belicosa do presidente com relação à Coreia do Norte —"fogo e fúria", "armado e pronto para disparo" e assim por diante— ele ainda não ordenou ação militar; Trump retaliou ao uso de armas químicas pelas forças do presidente Bashar al-Assad, da Síria, com um ataque limitado por mísseis (ainda que ele, como Obama, dispusesse de opções muito mais robustas), e encampou discretamente a estratégia de Obama para combater o Estado Islâmico.
Quanto ao uso de força militar por Trump, há mais sinais vermelhos e amarelos do que sinais verdes. O mundo continua turbulento e imprevisível, mas Trump parece ter aceitado, pelo menos por enquanto, a posição das Forças Aarmadas, que veem a projeção do poderio militar dos Estados Unidos como instrumento a ser usado cuidadosamente, em busca de objetivos realistas.
Esperemos que esse continue a ser o caso com relação à Coreia do Norte —um cenário no qual o ego de Trump, sua irresponsabilidade, a situação política interna dos Estados Unidos e a impulsividade de Kim Jong-un podem se combinar para criar uma catástrofe.
DITADORES DE PREFERÊNCIA A DEMOCRATAS
A nova linha de segurança nacional do governo define China e Rússia como "competidores" e promete reação mais vigorosa aos seus esforços para desordenar o status quo mundial.
Talvez o presidente tenha tido uma epifania sobre os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, mas a retórica hostil é contraditada por sua simpatia para com os ditadores desses dois países, o presidente Xi Jinping e o presidente Vladimir Putin.
Parece cada vez mais provável que ele aja contra a China no campo comercial, com medidas antidumping e retaliações contra os chineses pelo roubo de propriedade intelectual, mas a Rússia continua a receber passe livre.
A preferência de Trump pelos ditadores é evidenciada por seu tratamento preferencial aos ditadores responsáveis por violações dos direitos humanos na Arábia Saudita, Egito, Filipinas e Turquia, enquanto ao mesmo tempo agride verbalmente líderes democráticos, entre os quais a primeira-ministra alemã Angela Merkel, cuja política para com os refugiados ele descreveu como "erro catastrófico"; e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que ele acusou de "apaziguamento" dos norte-coreanos em um rompante no Twitter.
Trump merece crédito por ter desferido um golpe fatal contra os territórios conquistados pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria —sua única realização elogiável até agora, no campo da segurança nacional. Mas o padrão pelo qual a política externa de Trump deve ser julgada não é seu sucesso em resolver os problemas complicados do planeta.
A questão é determinar se sua abordagem poderá administrar os desafios que os Estados Unidos são incapazes de resolver de maneira que promova nossos interesses e ao mesmo tempo evite crises internacionais, a exemplo de escaladas nos conflitos com o Irã e, especialmente, a Coreia do Norte, que poderiam prejudicar esses interesses de maneira irreparável.
Passado quase um ano, o histórico de Trump não inspira confiança. Sua visão de mundo não promove uma calibragem cuidadosa dos meios e objetivos, e tampouco define os verdadeiros interesses nacionais dos Estados Unidos, e faz deles prioridades. Em lugar disso, é provável que o presidente coloque os interesses americanos em último, e não primeiro, lugar, quanto a diversas questões críticas para a prosperidade e segurança do país em longo prazo.
AARON DAVID MILLER é vice-presidente do Woodrow Wilson Center e foi analista e negociador no Departamento de Estado, em governos republicanos e democratas.
RICHARD SOKOLSKY é pesquisador do Carnegie Endowment for International Peace, e foi integrante do Escritório de Planejamento Estratégico do Departamento de Estado entre 2005 e 2015.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
ANÁLISE
AARON DAVID MILLER
RICHARD SOKOLSKY
DO "WASHINGTON POST"
28/12/2017 12h00
Ao concluir o discurso sobre segurança nacional que pronunciou no começo do mês, o presidente Donald Trump descreveu seu objetivo de política externa como "celebrar a grandeza americana como um exemplo reluzente para o mundo".
Não exatamente.
No final de seu primeiro ano no posto, a abordagem do presidente quanto aos assuntos internacionais não se encaixa na narrativa apresentada em seu discurso e, em lugar disso, se alinha a seis componentes que demonstram a visão de mundo de Trump no exterior: política importa mais do que estratégia, ditadores valem mais que democratas, América em primeiro lugar ("America First", um de seus lemas na campanha), aversão a riscos, desconstrução e ego.
Isso não constitui uma doutrina claramente definida, mas os componentes apresentam uma certa coesão — ao menos na cabeça de Trump— e indicam de que maneira ele deve operar pelo resto de seu mandato.
*
AMÉRICA EM PRIMEIRO LUGAR
O ponto de partida de qualquer esforço para decodificar a política externa de Trump é compreender o que ele quer dizer com "América em primeiro lugar" —expressão que envolve menos um conjunto de regras do que um estado de espírito.
Na visão do presidente, os Estados Unidos vêm sendo prejudicados há anos por "acordos comerciais desastrosos", aliados parasitas e compromissos assumidos pela elite de Washington que arrastaram o país para guerras intermináveis e dispendiosas e para esforços de construção de nações que resultaram em uma deterioração da prosperidade americana, em um mundo selvagem e hostil como o que Trump descreveu em seu discurso de política externa.
A visão de mundo de Trump é bem parecida com a sua visão dos negócios —um jogo cruel em que, para que alguém ganhe, alguém precisa perder, os fracos existem para serem explorados, e só os fortes emergem como verdadeiros vencedores. Essas são opiniões que ele manteve por toda a vida; não são um arcabouço ideológico imposto a um presidente ingênuo em seu primeiro mandato por conta das manipulações de Steve Bannon.
América primeiro é só uma variação de Trump primeiro, e é por isso que a visão do presidente subordina o interesse nacional dos Estados Unidos a uma visão de mundo egoísta e singularmente inadequada diante dos complicados desafios que o país tem pela frente.
MAIS POLÍTICA QUE ESTRATÉGIA
Para compreender Trump, é útil vê-lo não como um presidente que chegou com uma proposta de política externa, mas como um estreante na política que está tentando fazer o papel de presidente na TV. Sua abordagem quanto à política externa é orientada pela necessidade de aplacar constantemente o eleitorado que o conduziu ao posto, e não necessariamente por metas que sirvam aos interesses estratégicos de longo prazo desses eleitores ou dos aliados dos Estados Unidos.
O guru ideológico do presidente, Steve Bannon, já não vive na Casa Branca, mas sua lista de tarefas —de "construir um muro na fronteira com o México e fazer com que o México pague por ele no futuro" a transferir a embaixada norte-americana em Israel de Tel Aviv para Jerusalém— continua a ser prioridade.
Em fevereiro, o senador Bob Corker, republicano do Tennessee, disse ao site Politico que "em dado momento", Trump e sua equipe "estavam preparados para transferir a embaixada" a Jerusalém "no minuto em que tomassem posse" —uma decisão que teria parecido arbitrária então e que continuou a sê-lo quando o presidente a anunciou este mês, contrariando os conselhos de diversos assessores.
O abandono imediato da Parceria Transpacífico por Trump; sua decisão arbitrária de deixar o acordo de Paris sobre o clima; e as diversas versões de sua restrição à entrada de cidadãos de diversos países muçulmanos nos Estados Unidos são valiosos como gestos na direção de sua base, mas não têm valor como estratégia.
A retórica de campanha do presidente e sua determinação de ser o anti-Obama até agora vêm predominando e, com a aproximação das eleições legislativas de 2018 e da eleição presidencial de 2020, devemos esperar que os impulsos políticos de Trump cada vez mais se sobreponham à governança —no país e no exterior.
O EGO PRESIDENCIAL
Tony Schwarz, que coescreveu "A Arte do Acordo" com o presidente, afirmou este ano ano que "o senso de valor próprio de Trump está sempre em risco".
O presidente é propelido por profundas inseguranças e por uma necessidade descomunal de adoração e de brilhar mais que os outros, que esteve visível em seu discurso de aceitação da candidatura republicana, quando ele declarou que "só eu serei capaz de consertar" os problemas do sistema americano.
Isso também ficou perceptível em seu discurso sobre segurança nacional, quando ele declarou que "por muitos anos, nossos cidadãos assistiram aos políticos de Washington presidindo a uma sucessão de decepções".
Ele se considera o maior negociador do planeta, mas aliados e adversários já sabem como lidar com o presidente: se você adular e festejar Trump —como os sauditas e israelenses fizeram em sua primeira visita ao exterior, e como os japoneses e chineses fizeram em sua primeira viagem à Ásia—, ele se mostra maleável. Como exemplos, basta citar sua disposição de ignorar o registro atroz da Arábia Saudita quanto aos direitos humanos e a campanha militar do país no Iêmen, sua falta de pressão sobre Israel quanto às atividades de colonização indesejáveis, e sua decisão de não pressionar o Japão e a China quanto ao comércio internacional.
TRUMP, O DESCONSTRUCIONISTA
Apesar de sua fama como construtor, Trump se mostrou muito mais capacitado no ramo da demolição e do desmonte, e dedicou muito de seu tempo a desmantelar o que foi construído por seus predecessores —especialmente Obama—, sem oferecer alternativas viáveis para substituição.
Um exemplo importante é o acordo nuclear com o Irã, que tem falhas, mas vinha funcionando e é bem melhor do que não haver acordo.
Trump não explica a lógica e nem oferece detalhes específicos para sustentar sua afirmação de que o acordo com o Irã é "incompreensivelmente ruim", e diplomatas experientes já perceberem que ele não é grande coisa em criar acordos. Se não fosse por subordinados de cabeça mais fria, como o secretário de Estado Rex Tillerson e o secretário da Defesa Jim Mattis, Trump talvez já tivesse abandonado o acordo (e pode ser que ainda venha a fazê-lo), o que permitiria que o Irã avançasse a todo vapor com suas ambições nucleares e isolaria os Estados Unidos dos demais signatários do tratado.
AVERSÃO A RISCOS
É irônico que, para um presidente que deseja desesperadamente parecer durão e forte, Trump seja tão cauteloso e tão avesso a riscos quanto seu predecessor, quando o assunto é usar o poderio militar dos Estados Unidos.
Ainda que seu governo tenha recentemente anunciado a venda de armas "letais" que haviam sido negadas à Ucrânia por muito tempo, desafiando a Rússia, Trump, quanto a essas questões, é mais uma cópia de Obama do que o anti-Obama.
Apesar de toda a retórica belicosa do presidente com relação à Coreia do Norte —"fogo e fúria", "armado e pronto para disparo" e assim por diante— ele ainda não ordenou ação militar; Trump retaliou ao uso de armas químicas pelas forças do presidente Bashar al-Assad, da Síria, com um ataque limitado por mísseis (ainda que ele, como Obama, dispusesse de opções muito mais robustas), e encampou discretamente a estratégia de Obama para combater o Estado Islâmico.
Quanto ao uso de força militar por Trump, há mais sinais vermelhos e amarelos do que sinais verdes. O mundo continua turbulento e imprevisível, mas Trump parece ter aceitado, pelo menos por enquanto, a posição das Forças Aarmadas, que veem a projeção do poderio militar dos Estados Unidos como instrumento a ser usado cuidadosamente, em busca de objetivos realistas.
Esperemos que esse continue a ser o caso com relação à Coreia do Norte —um cenário no qual o ego de Trump, sua irresponsabilidade, a situação política interna dos Estados Unidos e a impulsividade de Kim Jong-un podem se combinar para criar uma catástrofe.
DITADORES DE PREFERÊNCIA A DEMOCRATAS
A nova linha de segurança nacional do governo define China e Rússia como "competidores" e promete reação mais vigorosa aos seus esforços para desordenar o status quo mundial.
Talvez o presidente tenha tido uma epifania sobre os dois principais rivais geopolíticos dos Estados Unidos, mas a retórica hostil é contraditada por sua simpatia para com os ditadores desses dois países, o presidente Xi Jinping e o presidente Vladimir Putin.
Parece cada vez mais provável que ele aja contra a China no campo comercial, com medidas antidumping e retaliações contra os chineses pelo roubo de propriedade intelectual, mas a Rússia continua a receber passe livre.
A preferência de Trump pelos ditadores é evidenciada por seu tratamento preferencial aos ditadores responsáveis por violações dos direitos humanos na Arábia Saudita, Egito, Filipinas e Turquia, enquanto ao mesmo tempo agride verbalmente líderes democráticos, entre os quais a primeira-ministra alemã Angela Merkel, cuja política para com os refugiados ele descreveu como "erro catastrófico"; e o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que ele acusou de "apaziguamento" dos norte-coreanos em um rompante no Twitter.
Trump merece crédito por ter desferido um golpe fatal contra os territórios conquistados pelo Estado Islâmico no Iraque e na Síria —sua única realização elogiável até agora, no campo da segurança nacional. Mas o padrão pelo qual a política externa de Trump deve ser julgada não é seu sucesso em resolver os problemas complicados do planeta.
A questão é determinar se sua abordagem poderá administrar os desafios que os Estados Unidos são incapazes de resolver de maneira que promova nossos interesses e ao mesmo tempo evite crises internacionais, a exemplo de escaladas nos conflitos com o Irã e, especialmente, a Coreia do Norte, que poderiam prejudicar esses interesses de maneira irreparável.
Passado quase um ano, o histórico de Trump não inspira confiança. Sua visão de mundo não promove uma calibragem cuidadosa dos meios e objetivos, e tampouco define os verdadeiros interesses nacionais dos Estados Unidos, e faz deles prioridades. Em lugar disso, é provável que o presidente coloque os interesses americanos em último, e não primeiro, lugar, quanto a diversas questões críticas para a prosperidade e segurança do país em longo prazo.
AARON DAVID MILLER é vice-presidente do Woodrow Wilson Center e foi analista e negociador no Departamento de Estado, em governos republicanos e democratas.
RICHARD SOKOLSKY é pesquisador do Carnegie Endowment for International Peace, e foi integrante do Escritório de Planejamento Estratégico do Departamento de Estado entre 2005 e 2015.
Tradução de PAULO MIGLIACCI
domingo, 24 de dezembro de 2017
Queda do Estado Islâmico redesenha Oriente Médio
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1945765-queda-do-estado-islamico-redesenha-oriente-medio.shtml
IGOR GIELOW
DE SÃO PAULO
24/12/2017 02h00
Encruzilhada estratégica mais turbulenta do mundo, o Oriente Médio terá um ano de definições em 2018. No centro do seu redesenho está o Irã, que avança como principal ator regional, e o papel que tanto EUA como a ressurgente Rússia terão em relação às ambições de Teerã.
Não é casual que autoridades americanas tenham escalado neste mês o tom das acusações contra os iranianos, como no caso dos mísseis que o país fornece para rebeldes xiitas no Iêmen. E que Vladimir Putin aja como mediador regional com desenvoltura.
São movimentos que ecoam 2017, o ano que deu ao Oriente Médio "um novo e radical desenho", nas palavras de George Friedman, papa da geopolítica americana e dono da consultoria Geopolitical Futures.
ESTADO ISLÂMICO
O Estado Islâmico, mais recente encarnação do extremismo sunita, foi derrotado em sua ambição territorial na Síria e no Iraque. "É o fato mais importante do ano, um ponto de mudança. Os extremistas permanecerão, mas não como califado", disse Elizabeth Marteu, especialista em Oriente Médio do escritório do Bahrein do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos.
A derrota militar, ainda que o grupo siga como referência para terroristas, deu musculatura à influência iraniana. No Iraque, apesar do apoio americano, unidades do Exército são controladas por Teerã, e na Síria operam tropas irregulares e prepostos do Hizbullah libanês.
IÊMEN E QATAR
Após ter sua expansão regional bloqueada pela guerra Irã-Iraque (1980-88), Teerã voltou a se mover em latitudes mais distantes. No Iêmen, o apoio aos rebeldes houthis, xiitas como os iranianos, virou um espinho para a sunita Arábia Saudita —que desde 2015 tenta derrotá-los com uma campanha aérea.
Também no Golfo, a proximidade entre o Irã e o Qatar gerou um bloqueio de países aliados a Riad contra o pequeno emirado. O país gastou US$ 38,5 bilhões em reservas e, até aqui, manteve sua economia funcionando.
SÍRIA
Com o EI em fuga, resta achar uma saída para o conflito entre o regime do ditador Bashar al-Assad e as forças rebeldes ora enfraquecidas. Dois anos de intervenção de Moscou e de Teerã viraram o jogo em favor de Damasco. Zonas de "de-escalada" (distensão) são negociadas entre Irã, Turquia e Rússia, e podem sugerir o fatiamento do país em linhas étnico-confessionais.
CURDOS
Na Síria, grupos apoiados pelos sauditas e pelo Ocidente estão em baixa, exceto os curdos do norte do país, que buscam autonomia semelhante àquela que os do Iraque tinham até sofrerem intervenção neste ano. É uma costura complexa, dado que a Turquia não quer ver aspirações nacionais entre a etnia que tem grande população em seu próprio território.
ARÁBIA SAUDITA
País líder do mundo sunita, ramo majoritário do islã, a Arábia Saudita passa por turbulência e parece incapaz de fazer frente ao avanço dos rivais xiitas do Irã. Está atravessando um processo de expurgo liderado pelo príncipe herdeiro Muhammad bin Salman, o MBS, 32.
No Iêmen, sua intervenção não desalojou os houthis. O Qatar resiste ao embargo. Para piorar, apesar das promessas de apoio, há dúvidas sobre a disposição de Donald Trump em acionar o guarda-chuva militar contra o Irã.
O petróleo do qual Riad é líder mundial está barato e vê fontes alternativas de energia se multiplicarem, a começar pela produção dos próprios Estados Unidos.
EGITO
No adjacente norte da África, o Egito estabilizou-se após a convulsão pós-Primavera Árabe, em 2011. O regime de Abdul Fattah al-Sisi se aproxima de Moscou, no vácuo de liderança de Trump, e não será surpresa ver caças russos atacando alvos na anárquica vizinha Líbia com apoio egípcio.
ISRAEL
Com tantas crises regionais, Israel ficou em relativo segundo plano em 2017 —até que Trump resolveu enfatizar aquilo que seus antecessores já haviam feito, dizendo reconhecer Jerusalém como capital do país.
Até aqui, é incerto se haverá mesmo uma nova revolta palestina, mas Irã e Turquia já estão tirando proveito político do fato.
LÍBANO
Muito influenciado pelo Irã, pela presença do Hizbullah, o Líbano foi alvo de Riad com a fracassada renúncia do premiê Saad Hariri, aliado dos sauditas. "Enquanto o risco de confronto no sul da Síria é real, Israel vai pensar duas vezes antes de entrar em guerra no Líbano. Não agirá em favor dos sauditas", avalia a francesa Marteu.
PAPEL DAS POTÊNCIAS
O próximo ano também servirá para confirmar ou desafiar a noção corrente de desembarque de Washington da região, testando por exemplo se as falas duras contra Teerã são pura retórica.
A incoerência estratégica americana dos anos recentes levou o Irã a herdar os frutos da guerra travada por Washington no Iraque e abriu as portas para Putin construir uma agenda externa altamente popular em casa.
O Kremlin está expandindo seu papel ao manter suas bases na Síria, conversar com o Egito e negociar termos de cooperação com os sauditas. Isso tendo o Irã como seu aliado preferencial, num acerto que agora inclui também a Turquia —um membro da Otan, aliança militar liderada pelos EUA, por sinal.
Historicamente, Moscou é rival tanto de Teerã quanto de Ancara, temendo a influência dos dois países sobre as populações muçulmanas no Cáucaso russo. "A relação russo-iraniana é um casamento de conveniência, mas deve continuar no futuro próximo", disse o analista Trita Parsi, do Conselho Nacional Iraniano Americano.
O balé geopolítico com o Irã ao centro também tem fundo religioso, já que encarna a disputa entre o sunismo majoritário liderado pela Arábia Saudita e o xiismo minoritário centrado em Teerã.
Para o iraniano Parsi, contudo, "isso não ajuda tanto a entender o que ocorre na área, já que o que a Arábia Saudita quer mesmo é forçar a volta militar dos EUA à região, porque ela não tem força para enfrentar o Irã".
IGOR GIELOW
DE SÃO PAULO
24/12/2017 02h00
Encruzilhada estratégica mais turbulenta do mundo, o Oriente Médio terá um ano de definições em 2018. No centro do seu redesenho está o Irã, que avança como principal ator regional, e o papel que tanto EUA como a ressurgente Rússia terão em relação às ambições de Teerã.
Não é casual que autoridades americanas tenham escalado neste mês o tom das acusações contra os iranianos, como no caso dos mísseis que o país fornece para rebeldes xiitas no Iêmen. E que Vladimir Putin aja como mediador regional com desenvoltura.
São movimentos que ecoam 2017, o ano que deu ao Oriente Médio "um novo e radical desenho", nas palavras de George Friedman, papa da geopolítica americana e dono da consultoria Geopolitical Futures.
ESTADO ISLÂMICO
O Estado Islâmico, mais recente encarnação do extremismo sunita, foi derrotado em sua ambição territorial na Síria e no Iraque. "É o fato mais importante do ano, um ponto de mudança. Os extremistas permanecerão, mas não como califado", disse Elizabeth Marteu, especialista em Oriente Médio do escritório do Bahrein do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos.
A derrota militar, ainda que o grupo siga como referência para terroristas, deu musculatura à influência iraniana. No Iraque, apesar do apoio americano, unidades do Exército são controladas por Teerã, e na Síria operam tropas irregulares e prepostos do Hizbullah libanês.
IÊMEN E QATAR
Após ter sua expansão regional bloqueada pela guerra Irã-Iraque (1980-88), Teerã voltou a se mover em latitudes mais distantes. No Iêmen, o apoio aos rebeldes houthis, xiitas como os iranianos, virou um espinho para a sunita Arábia Saudita —que desde 2015 tenta derrotá-los com uma campanha aérea.
Também no Golfo, a proximidade entre o Irã e o Qatar gerou um bloqueio de países aliados a Riad contra o pequeno emirado. O país gastou US$ 38,5 bilhões em reservas e, até aqui, manteve sua economia funcionando.
SÍRIA
Com o EI em fuga, resta achar uma saída para o conflito entre o regime do ditador Bashar al-Assad e as forças rebeldes ora enfraquecidas. Dois anos de intervenção de Moscou e de Teerã viraram o jogo em favor de Damasco. Zonas de "de-escalada" (distensão) são negociadas entre Irã, Turquia e Rússia, e podem sugerir o fatiamento do país em linhas étnico-confessionais.
CURDOS
Na Síria, grupos apoiados pelos sauditas e pelo Ocidente estão em baixa, exceto os curdos do norte do país, que buscam autonomia semelhante àquela que os do Iraque tinham até sofrerem intervenção neste ano. É uma costura complexa, dado que a Turquia não quer ver aspirações nacionais entre a etnia que tem grande população em seu próprio território.
ARÁBIA SAUDITA
País líder do mundo sunita, ramo majoritário do islã, a Arábia Saudita passa por turbulência e parece incapaz de fazer frente ao avanço dos rivais xiitas do Irã. Está atravessando um processo de expurgo liderado pelo príncipe herdeiro Muhammad bin Salman, o MBS, 32.
No Iêmen, sua intervenção não desalojou os houthis. O Qatar resiste ao embargo. Para piorar, apesar das promessas de apoio, há dúvidas sobre a disposição de Donald Trump em acionar o guarda-chuva militar contra o Irã.
O petróleo do qual Riad é líder mundial está barato e vê fontes alternativas de energia se multiplicarem, a começar pela produção dos próprios Estados Unidos.
EGITO
No adjacente norte da África, o Egito estabilizou-se após a convulsão pós-Primavera Árabe, em 2011. O regime de Abdul Fattah al-Sisi se aproxima de Moscou, no vácuo de liderança de Trump, e não será surpresa ver caças russos atacando alvos na anárquica vizinha Líbia com apoio egípcio.
ISRAEL
Com tantas crises regionais, Israel ficou em relativo segundo plano em 2017 —até que Trump resolveu enfatizar aquilo que seus antecessores já haviam feito, dizendo reconhecer Jerusalém como capital do país.
Até aqui, é incerto se haverá mesmo uma nova revolta palestina, mas Irã e Turquia já estão tirando proveito político do fato.
LÍBANO
Muito influenciado pelo Irã, pela presença do Hizbullah, o Líbano foi alvo de Riad com a fracassada renúncia do premiê Saad Hariri, aliado dos sauditas. "Enquanto o risco de confronto no sul da Síria é real, Israel vai pensar duas vezes antes de entrar em guerra no Líbano. Não agirá em favor dos sauditas", avalia a francesa Marteu.
PAPEL DAS POTÊNCIAS
O próximo ano também servirá para confirmar ou desafiar a noção corrente de desembarque de Washington da região, testando por exemplo se as falas duras contra Teerã são pura retórica.
A incoerência estratégica americana dos anos recentes levou o Irã a herdar os frutos da guerra travada por Washington no Iraque e abriu as portas para Putin construir uma agenda externa altamente popular em casa.
O Kremlin está expandindo seu papel ao manter suas bases na Síria, conversar com o Egito e negociar termos de cooperação com os sauditas. Isso tendo o Irã como seu aliado preferencial, num acerto que agora inclui também a Turquia —um membro da Otan, aliança militar liderada pelos EUA, por sinal.
Historicamente, Moscou é rival tanto de Teerã quanto de Ancara, temendo a influência dos dois países sobre as populações muçulmanas no Cáucaso russo. "A relação russo-iraniana é um casamento de conveniência, mas deve continuar no futuro próximo", disse o analista Trita Parsi, do Conselho Nacional Iraniano Americano.
O balé geopolítico com o Irã ao centro também tem fundo religioso, já que encarna a disputa entre o sunismo majoritário liderado pela Arábia Saudita e o xiismo minoritário centrado em Teerã.
Para o iraniano Parsi, contudo, "isso não ajuda tanto a entender o que ocorre na área, já que o que a Arábia Saudita quer mesmo é forçar a volta militar dos EUA à região, porque ela não tem força para enfrentar o Irã".
Labels:
África,
África Setentrional,
Arábia Saudita,
Ásia,
Assad,
Curdos,
Egito,
Geopolítica,
Irã,
Israel,
Líbano,
Oriente Médio,
Política Internacional,
Qatar,
Relações Internacionais,
Síria
quarta-feira, 20 de dezembro de 2017
Descoberto por acidente, vidro é capaz de se consertar sozinho em 30 segundos
Fonte: http://m.folha.uol.com.br/ciencia/2017/12/1944847-descoberto-por-acidente-vidro-e-capaz-de-se-consertar-sozinho-em-30-segundos.shtml
DA BBC BRASIL
20/12/2017 17h00
Nem sempre um aparelho celular sai ileso de uma queda. A tela, uma das mais frágeis partes dos equipamentos eletrônicos, é a que mais corre risco de ser danificada.
Mas uma equipe de pesquisadores japoneses parece ter encontrado a solução para o problema da tela quebrada.
Liderados pelo professor Takuzo Aida, do departamento de química e biotecnologia da Universidade de Tóquio, os pesquisadores criaram um novo tipo de vidro que tem capacidade de se consertar sozinho.
A invenção tem potencial para ser usada não apenas em telas de celular mas também em outros dispositivos frágeis. O vidro é feito a base de um polímero leve que recompõe suas próprias rachaduras.
A diferença desse em comparação com outros materiais criados anteriormente que se consertam sozinhos é que o polímero não precisa ser submetido a temperaturas de cerca de 120°C para reorganizar a própria estrutura molecular.
Ele se conserta simplesmente ao ser pressionado manualmente durante 30 segundos, a uma temperatura de 21ºC.
DESCOBERTA ACIDENTAL
As incríveis propriedades desse material foram descobertas por um estudante de pós-graduação. Yu Yanagisawa trabalhava na criação de uma cola e, sem querer, cortou a superfície do polímero.
Ele quase não teve tempo de lamentar pelo acidente porque, rapidamente, se deu conta que as bordas da superfície que foram quebradas se "regeneraram".
Yanagisawa repetiu o processo e descobriu que o vidro não apenas se consertava sozinho mas também recuperava sua firmeza original em duas horas.
O estudo foi publicado na revista científica "Science".
"Espero que vidro que se conserta sozinho seja um novo material ambientalmente amigável, que não precisa ser descartado quando quebra", afirmou Yanagisawa à emissora japonesa NHK.
DA BBC BRASIL
20/12/2017 17h00
Nem sempre um aparelho celular sai ileso de uma queda. A tela, uma das mais frágeis partes dos equipamentos eletrônicos, é a que mais corre risco de ser danificada.
Mas uma equipe de pesquisadores japoneses parece ter encontrado a solução para o problema da tela quebrada.
Liderados pelo professor Takuzo Aida, do departamento de química e biotecnologia da Universidade de Tóquio, os pesquisadores criaram um novo tipo de vidro que tem capacidade de se consertar sozinho.
A invenção tem potencial para ser usada não apenas em telas de celular mas também em outros dispositivos frágeis. O vidro é feito a base de um polímero leve que recompõe suas próprias rachaduras.
A diferença desse em comparação com outros materiais criados anteriormente que se consertam sozinhos é que o polímero não precisa ser submetido a temperaturas de cerca de 120°C para reorganizar a própria estrutura molecular.
Ele se conserta simplesmente ao ser pressionado manualmente durante 30 segundos, a uma temperatura de 21ºC.
DESCOBERTA ACIDENTAL
As incríveis propriedades desse material foram descobertas por um estudante de pós-graduação. Yu Yanagisawa trabalhava na criação de uma cola e, sem querer, cortou a superfície do polímero.
Ele quase não teve tempo de lamentar pelo acidente porque, rapidamente, se deu conta que as bordas da superfície que foram quebradas se "regeneraram".
Yanagisawa repetiu o processo e descobriu que o vidro não apenas se consertava sozinho mas também recuperava sua firmeza original em duas horas.
O estudo foi publicado na revista científica "Science".
"Espero que vidro que se conserta sozinho seja um novo material ambientalmente amigável, que não precisa ser descartado quando quebra", afirmou Yanagisawa à emissora japonesa NHK.
2017, o ano em que a China se firmou como superpotência
Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcostroyjo/2017/12/1944753-2017-em-que-a-china-se-firmou-como-superpotencia.shtml
20/12/2017 02h00
Por Marcos Troyjo
A China, goste-se ou não, continua a crescer muito forte. Não mais a taxas de 12%, como há 15 anos, mas alguma coisa entre 6,5% e 7% a partir de uma base de 13 trilhões de dólares.
De acordo com cálculos do FMI, que às vezes mede o PIB dos países pelo critério de poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo, o que significa um eclipse tão importante nas relações econômicas internacionais que a última vez que a gente tinha observado alguma coisa semelhante foi 1871, quando os EUA ultrapassaram o Reino Unido.
Neste 2017 que termina, reforça-se uma outra constatação: os Estados Unidos não são mais hegemônicos. São protagonistas, mas ostentam tal condição ladeados pela China. Tem gente que brinca que não se pode mais falar em "Brics", mas em mais 'C + bris".
Os chineses estão tomando muito cuidado para que sua indiscutível categoria de superpotência não lhes suba à cabeça. Buscam não demonstrar estrelismo, sem tentar impor liderança, por exemplo, naquelas instituições que foram criadas pelos Brics.
Fazem isso de maneira muito sutil. É o caso do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) e também de outras instituições onde os chineses são o principal ator, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.
Algo que nos ajuda a explicar essa postura chinesa está presente numa frase famosa do Deng Xiaoping, grande arquiteto dessa nova fase da China há 40 anos: "hide your strengths, bite the bullet, gain time". Ou seja, esconda suas forças, engula sapos, aceite passar por dificuldades, ganhe tempo.
Quer dizer, os chineses estão em uma estratégia de longuíssimo prazo, em que a ascensão precisa ser vista mais como natural do que imposta. Eles gostam muitas vezes de aparecer como país em desenvolvimento, não se desvinculando, por exemplo, na ONU, da agenda dos africanos ou da Ásia mais pobre.
Quanto mais países possam se vincular institucionalmente a processos em instituições pluri ou multilaterais onde a liderança chinesa é potente, isso é melhor para a Pequim. Isso é especialmente interessante debaixo do guarda-chuva do NBD, pois isso dá à China um veículo que não tem as mesmas amarras geográficas a que se prende o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento.
O Banco Asiático só vai fazer investimentos na Ásia, ao passo que o Novo Banco de Desenvolvimento pode investir em projetos na América Latina, na África, em outras localidades, o que dá à China não só maior espaço de manobra, mas também uma certa indireção que eles tanto apreciam em sua cultura como na política externa.
O que essa China superpotência quer com o Brasil? Bem, o mais correto é notar que as relações econômicas bilaterais passam por um momento inercial.
Do ponto de vista comercial, continua muito parecida com aquela que os países latino-americanos mantinham com a Inglaterra no século 19. Ou seja, por uma lado, grande exportadores de matérias-primas; por outro, um exportador de bens manufaturados de mais valor agregado.
Isso deve continuar. A China tem enormes preocupações com segurança alimentar, precisa mais ainda das commodities minerais para seus projetos de infraestrutura.
O que seguramente foge da inércia é aumento perceptível do investimento chinês no Brasil, sobretudo na forma de aquisição de bens, como as chamadas "fusões e aquisições".
Para empresas chinesas que quiseram ter uma pegada global durante um período recente, o momento para a investida é agora. E os chineses vão entrar com tudo também nessa dinâmica de privatizações e concessões, sobretudo quando ficar claro qual será o cenário político brasileiro a partir das eleições de 2018.
Eles estão com o dedo no gatilho para mais investimentos no Brasil em várias áreas, praticamente todo o segmento da infraestrutura está sendo examinado pelos chineses.
Congresso do Partido Comunista chinês
No âmbito da geopolítica global, não é correta a interpretação de que a consagração de Xi Jinping na China em 2017 simplesmente responde à chegada ao poder de Donald Trump.
Mesmo se Hillary Clinton fosse eleita presidente, todos teriam de reconhecer que a China se consolida como uma das duas maiores potências do mundo —e a hipertrofia do poder chinês é perceptível em diversas áreas das relações internacionais.
A China está aumentando muito sua função como fonte irradiadora de capital e de empréstimos externos. Pequim também expande seus investimentos em 12% ao ano na área de defesa.
Tudo isso independe de quem está no poder nos EUA. Agora, é claro, isso foi ainda mais realçado pelo fato de que essa ascensão chinesa se deu contemporaneamente à chegada à Casa Branca de um presidente protecionista, avesso à globalização.
Se a globalização foi o grande trampolim que permitiu essa prosperidade da China e o livre comércio supostamente é a melhor saída para os problemas internacionais, os EUA entraram na contramão de tendência. Nesse empalidecimento da hegemonia norte-americana, 2017 foi marco definitivo de que a China tomou assento à mesa dos que comandam o mundo.
20/12/2017 02h00
Por Marcos Troyjo
A China, goste-se ou não, continua a crescer muito forte. Não mais a taxas de 12%, como há 15 anos, mas alguma coisa entre 6,5% e 7% a partir de uma base de 13 trilhões de dólares.
De acordo com cálculos do FMI, que às vezes mede o PIB dos países pelo critério de poder de paridade de compra, a China já é a maior economia do mundo, o que significa um eclipse tão importante nas relações econômicas internacionais que a última vez que a gente tinha observado alguma coisa semelhante foi 1871, quando os EUA ultrapassaram o Reino Unido.
Neste 2017 que termina, reforça-se uma outra constatação: os Estados Unidos não são mais hegemônicos. São protagonistas, mas ostentam tal condição ladeados pela China. Tem gente que brinca que não se pode mais falar em "Brics", mas em mais 'C + bris".
Os chineses estão tomando muito cuidado para que sua indiscutível categoria de superpotência não lhes suba à cabeça. Buscam não demonstrar estrelismo, sem tentar impor liderança, por exemplo, naquelas instituições que foram criadas pelos Brics.
Fazem isso de maneira muito sutil. É o caso do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD) e também de outras instituições onde os chineses são o principal ator, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura.
Algo que nos ajuda a explicar essa postura chinesa está presente numa frase famosa do Deng Xiaoping, grande arquiteto dessa nova fase da China há 40 anos: "hide your strengths, bite the bullet, gain time". Ou seja, esconda suas forças, engula sapos, aceite passar por dificuldades, ganhe tempo.
Quer dizer, os chineses estão em uma estratégia de longuíssimo prazo, em que a ascensão precisa ser vista mais como natural do que imposta. Eles gostam muitas vezes de aparecer como país em desenvolvimento, não se desvinculando, por exemplo, na ONU, da agenda dos africanos ou da Ásia mais pobre.
Quanto mais países possam se vincular institucionalmente a processos em instituições pluri ou multilaterais onde a liderança chinesa é potente, isso é melhor para a Pequim. Isso é especialmente interessante debaixo do guarda-chuva do NBD, pois isso dá à China um veículo que não tem as mesmas amarras geográficas a que se prende o Banco Asiático de Infraestrutura e Investimento.
O Banco Asiático só vai fazer investimentos na Ásia, ao passo que o Novo Banco de Desenvolvimento pode investir em projetos na América Latina, na África, em outras localidades, o que dá à China não só maior espaço de manobra, mas também uma certa indireção que eles tanto apreciam em sua cultura como na política externa.
O que essa China superpotência quer com o Brasil? Bem, o mais correto é notar que as relações econômicas bilaterais passam por um momento inercial.
Do ponto de vista comercial, continua muito parecida com aquela que os países latino-americanos mantinham com a Inglaterra no século 19. Ou seja, por uma lado, grande exportadores de matérias-primas; por outro, um exportador de bens manufaturados de mais valor agregado.
Isso deve continuar. A China tem enormes preocupações com segurança alimentar, precisa mais ainda das commodities minerais para seus projetos de infraestrutura.
O que seguramente foge da inércia é aumento perceptível do investimento chinês no Brasil, sobretudo na forma de aquisição de bens, como as chamadas "fusões e aquisições".
Para empresas chinesas que quiseram ter uma pegada global durante um período recente, o momento para a investida é agora. E os chineses vão entrar com tudo também nessa dinâmica de privatizações e concessões, sobretudo quando ficar claro qual será o cenário político brasileiro a partir das eleições de 2018.
Eles estão com o dedo no gatilho para mais investimentos no Brasil em várias áreas, praticamente todo o segmento da infraestrutura está sendo examinado pelos chineses.
Congresso do Partido Comunista chinês
No âmbito da geopolítica global, não é correta a interpretação de que a consagração de Xi Jinping na China em 2017 simplesmente responde à chegada ao poder de Donald Trump.
Mesmo se Hillary Clinton fosse eleita presidente, todos teriam de reconhecer que a China se consolida como uma das duas maiores potências do mundo —e a hipertrofia do poder chinês é perceptível em diversas áreas das relações internacionais.
A China está aumentando muito sua função como fonte irradiadora de capital e de empréstimos externos. Pequim também expande seus investimentos em 12% ao ano na área de defesa.
Tudo isso independe de quem está no poder nos EUA. Agora, é claro, isso foi ainda mais realçado pelo fato de que essa ascensão chinesa se deu contemporaneamente à chegada à Casa Branca de um presidente protecionista, avesso à globalização.
Se a globalização foi o grande trampolim que permitiu essa prosperidade da China e o livre comércio supostamente é a melhor saída para os problemas internacionais, os EUA entraram na contramão de tendência. Nesse empalidecimento da hegemonia norte-americana, 2017 foi marco definitivo de que a China tomou assento à mesa dos que comandam o mundo.
segunda-feira, 18 de dezembro de 2017
Plano de segurança de Donald Trump ataca China e Rússia e ignora clima
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1944348-plano-de-seguranca-de-donald-trump-ataca-china-e-russia-e-ignora-clima.shtml
ESTELITA HASS CARAZZAI
DE WASHINGTON
18/12/2017 19h40
Em um documento que consolida a retórica de campanha da
"América em primeiro lugar", o presidente Donald Trump lançou nesta
segunda (18) a Estratégia de Segurança Nacional de sua gestão, atacando China e
Rússia como rivais econômicos e políticos, além de retirar o aquecimento global
da lista de ameaças e fortalecer o ataque à imigração ilegal.
"Nós não vamos mais tolerar o abuso comercial. [...]
Nós nos defenderemos por nós e pelo nosso país, como nunca antes",
declarou Trump, durante o lançamento do plano.
O documento aborda com ênfase inédita a soberania econômica
dos Estados Unidos, ao afirmar que China e Rússia "desafiam o poder, a
influência e os interesses americanos" e tentam "erodir a segurança e
a prosperidade" do país.
Em discurso, Trump deu destaque à necessidade de proteger o
emprego do trabalhador americano, revitalizar a indústria e acabar com acordos
comerciais "desastrosos", que deram "lucros maciços a nações
estrangeiras, mas levaram milhares de fábricas e empregos americanos a outros
países".
"Segurança econômica é segurança nacional",
afirmou o presidente. "O crescimento econômico e a prosperidade interna
são absolutamente necessários para o poder americano."
A revisão de acordos comerciais e o fortalecimento da
economia doméstica dos Estados Unidos são alguns dos destaques do plano.
Em clima de Guerra Fria, tanto China quanto Rússia são
chamados de "poderes revisionistas" e estão listados entre os rivais
políticos, econômicos e militares dos Estados Unidos.
"China e Rússia querem moldar um mundo antitético aos
valores e interesses americanos", informa o documento.
A China, segundo o plano, expandiu seu poder "à custa
da soberania de outros", com base em um sistema autoritário e com abuso da
corrupção e da vigilância. Já a Rússia, com "ambição e crescente poderio
militar", buscaria "enfraquecer a influência mundial dos Estados
Unidos e separar o país de seus aliados".
MEIO AMBIENTE
Pela primeira vez nos últimos anos, a estratégia americana
não inclui o aquecimento global como uma ameaça à segurança nacional.
No discurso desta segunda, Trump fez apenas uma rápida
menção ao "injusto" Acordo de Paris, do qual os Estados Unidos se
retiraram em junho.
Em 68 páginas, o novo plano de segurança nacional só cita a
palavra "clima" quatro vezes, três delas para falar de um "clima
favorável aos negócios".
A quarta citação é no trecho sobre soberania energética, que
sustenta que os Estados Unidos buscarão formas de energia alternativa em função
de preocupações climáticas, mas que precisam combater a "agenda
anticrescimento".
IMIGRAÇÃO
O plano também repisa a promessa de construção do muro na
fronteira com o México e reforça as leis de imigração, estabelecendo que imigrantes
ilegais serão apreendidos e removidos do país.
"Vamos reafirmar esta verdade fundamental: uma nação
sem fronteiras não é uma nação", discursou Trump.
O presidente também estabeleceu o desenvolvimento de uma
proteção antimísseis, em função das recentes ameaças da Coreia do Norte.
Sobre as relações com a América Latina, o documento destaca
novamente a influência da China na região, por meio de investimentos estatais e
empréstimos do governo, enquanto a Rússia continuaria "fortalecendo
radicais cubanos" e apoiando o regime ditatorial na Venezuela.
O governo americano promete isolar governos que se recusem a
promover a paz e a prosperidade, além de continuar compartilhando informações
que levem à punição de traficantes e corruptos pelas autoridades locais —como
ocorreu na Operação Lava Jato.
sexta-feira, 15 de dezembro de 2017
Deram um tiro no peito da internet. Ela vai sobreviver; mas não será a mesma
Fonte: https://super.abril.com.br/blog/bruno-garattoni/deram-um-tiro-no-peito-da-internet-ela-vai-sobreviver-mas-nao-sera-a-mesma/
Por Bruno Garattoni -
Publicado em 15 dez 2017
Como você talvez saiba, ontem a Federal Communications
Commission, a Anatel dos EUA, decidiu acabar com a chamada “neutralidade da
rede”: princípio que obrigava os provedores de internet a tratarem igualmente
todos os dados, sem poder discriminar ou privilegiar nada do que passa por suas
redes. Os deputados e senadores americanos, que trabalharam a favor da medida,
receberam mais de US$ 100 milhões em doações das empresas de telecomunicações,
as grandes beneficiadas dessa história (não é só no Brasil, veja você, que
corporações compram as graças dos políticos). O fim da neutralidade é a maior
mudança da história da internet – que, ao longo dos próximos anos, poderá se transformar
em algo radicalmente diferente. E não para melhor.
Porque, a partir de agora, as telecoms passam a ser donas da
internet. Elas decidem o que cada pessoa poderá acessar, como e quantas vezes
fará isso. E, ao exercer esse poder, controlam o destino da rede. Suponha, por
exemplo, que você tenha uma cota de dados para usar durante o mês – como já
acontece nos planos de celular, e as telecoms desejam fazer com a banda larga
fixa. Só que determinados sites e apps não contam, ou seja, você pode usá-los à
vontade sem descontar da sua franquia de dados. De quebra, eles abrem muito
mais rápido. É lógico que você irá acessar esses sites e apps, e não outros. E
isso tem uma consequência econômica óbvia. As empresas de internet que fizerem
acordos com as telecoms, pagando o que elas pedirem (e obedecendo às condições
que elas impuserem), irão prosperar; as outras, definhar e sumir.
Mas que mal tem isso?, você pode perguntar. Afinal, vivemos
no capitalismo, e as telecoms têm direito de cobrar pelo uso das suas redes,
nas quais investiram dezenas de bilhões de dólares. Gigantes como Google,
Facebook, Amazon e Netflix têm dinheiro de sobra para pagar. Do outro lado, os
usuários que quiserem adquirir novos tipos de acesso à internet (como uma
conexão que priorize a velocidade dos vídeos, por exemplo) terão acesso a eles.
E assim, pela magia da liberdade econômica, a inovação florescerá e todos
sairão ganhando.
Na prática, não será bem assim. Por um motivo simples: o
setor de telecomunicações é naturalmente concentrado. Quantas empresas oferecem
banda larga na sua rua? Uma, duas, provavelmente no máximo três. Com o celular
acontece a mesma coisa, não? É assim porque os investimentos necessários para
construir as redes são muito altos, e porque a própria infraestrutura limita o
número de players (o espectro eletromagnético só comporta um determinado número
de operadoras; os postes das ruas, certa quantidade de cabos). Com poucas
empresas competindo, cada uma se torna desproporcionalmente poderosa. Foi por
isso que, no começo de 2015, os EUA criaram regras para garantir a neutralidade
da rede – um ano depois do Brasil, que em 2014 fizera o mesmo ao aprovar o
Marco Civil da Internet. A legislação americana acaba de cair; a do Brasil, bem
como a de outros países, deve seguir o mesmo caminho.
E a tendência, como em todos os setores econômicos, é que a
concentração aumente. Sabe quando você vê, no noticiário, que duas grandes
empresas se fundiram ou uma comprou a outra? Só no ano passado, foram mais de
7.000 fusões e aquisições entre grandes empresas, com valor combinado de US$
2,4 trilhões. É provável que, daqui a alguns anos, existam ainda menos empresas
de telecomunicações do que hoje – e as que sobrarem sejam ainda maiores.
Google, Facebook, Amazon e Netflix vão fazer acordos com as
novas donas da internet. Uns se conformarão em ter menos lucro, outros
repassarão o gasto aos usuários (nós). Mas continuarão funcionando, talvez até
melhor. O problema é que, daí para a frente, qualquer aplicativo, site ou
serviço que for inventado estará imediatamente em desvantagem – porque seus criadores
não conseguirão dar tanto dinheiro às telecoms quanto os quatro gigantes. E as
pessoas não conseguirão acessar, e usar, aquele app ou site da mesma forma.
Para as startups, a única maneira de sobreviver e ter
sucesso será se aliar a um dos quatro. O tráfego (e o faturamento) da rede, que
nos últimos anos já foi ficando altamente concentrado, será mais concentrado
ainda. Num segundo momento, as telecoms começarão a absorver os próprios
produtores de conteúdo, como sites e empresas jornalísticas, num processo de
hiperconsolidação (que já está começando nos EUA). Medidas que hoje soam
absurdas, como vetar acesso a certas coisas ou restringir a navegação a pacotes
de conteúdo, como numa assinatura de tv a cabo, se tornarão plausíveis. Algum
tempo depois, serão a norma.
E a internet, que foi projetada para ser imune a qualquer
tentativa de controle, terminará nas mãos de meia dúzia de empresas. A rede
global descentralizada e indestrutível, criada para resistir até a uma guerra
nuclear, terá sucumbido a algo mais prosaico: o desarranjo nas relações entre a
política, o dinheiro e o poder.
Guerra no Iêmen leva Irã, Arábia Saudita e EUA para beira do precipício
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/patriciacamposmello/2017/12/1943384-guerra-no-iemen-leva-ira-arabia-saudita-e-eua-para-beira-do-precipicio.shtml
15/12/2017 02h10
Por Patricia Campos Mello
O risco de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã atingiu o "nível crítico", segundo o centro de resolução de conflitos International Crisis Group (ICG).
O ICG desenvolveu uma ferramenta chamada "Lista de gatilhos Irã-Estados Unidos", que monitora e tenta medir a probabilidade de choques entre os dois países e seus aliados. No momento, o Iêmen é o maior fator de risco para um choque entre EUA e Irã, atingindo nível crítico (a escala vai do risco mais alto, crítico, e passa por severo, substancial, moderado e baixo).
O relatório do ICG, divulgado na quinta-feira (14), aponta que a escalada no conflito no Iêmen - rebeldes houthis apoiados pelo Irã lutam contra o governo do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, com apoio da Arábia Saudita, que, por sua vez, é aliada dos Estados Unidos - tem grande probabilidade de evoluir para um confronto intencional ou acidental, direto ou indireto entre os iranianos e os americanos.
O Iêmen vive uma guerra civil desde 2015, com mais de 10 mil mortos. As tensões entre Irã e Arábia Saudita se exacerbaram no dia 4 novembro deste ano, quando houthis no Iêmen lançaram um míssil balístico de longo alcance contra a capital saudita, Riadh. Foi o ataque que chegou mais perto de atingir um grande centro urbano no país.
A Arábia Saudita afirmou que o Irã havia fornecido o míssil para os rebeldes e classificou o ataque como "ato de guerra". O ataque também mostrou que outros países do Golfo, aliados dos sauditas, estão no alcance de possíveis mísseis lançados pelos houthis.
Nesta quinta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, convocou uma entrevista coletiva e mostrou o que chamou de "provas irrefutáveis" de que o Irã forneceu aos houthis o míssil lançado contra Riadh, além de outros armamentos.
"É difícil achar algum conflito ou facção terrorista no Oriente Médio que não tenha as impressões digitais do Irã", disse Haley, ao mostrar restos chamuscados de um míssil, que seria aquele disparado contra o aeroporto em Riadh, além de um drone e armamentos anti-tanques recuperados no Iêmen pela Arábia Saudita.
A embaixadora acusou o Irã de desrespeitar resoluções da ONU que proíbem o fornecimento de armas para os rebeldes no Iêmen.
"Vocês verão que nós vamos construir uma coalizão para contra atacar o Irã", disse.
A missão do Irã na ONU afirmou que as acusações dos EUA eram "irresponsáveis, provocadoras, destrutivas e fabricadas".
Haley acusa o Irã de fornecer armas também para Síria e Líbano.
Ela exortou o Conselho de Segurança da ONU a impor sanções contra o Irã, apontando que o país, caso comprovado o auxílio aos houthis, teria violado resoluções do órgão.
Mas a Rússia e a China, membros permanentes do CS e, portanto, com poder de veto, dificilmente aprovariam essas sanções contra o Irã.
A acusação de Haley abre caminho para um possível ataque dos EUA a alvos houthis dentro do Iêmen - o que poderia gerar um aumento do apoio dos iranianos aos rebeldes ou retaliações de milícias xiitas contra forças americanas na Síria ou Iraque.
Segundo o ICG, não está clara a magnitude do apoio do Irã aos houthis e se Teerã tem poder de controlá-los, uma vez que os rebeldes já ignoraram sugestões iranianas no passado. "Isso significa que o Irã pode pagar um preço por ações de um grupo aliado que não controla", diz o relatório do grupo.
Além da crise do Iêmen, há vários outros focos de atrito entre o Irã e os EUA e seus aliados. Em outubro, o presidente Donald Trump recusou-se a certificar que o Irã vinha cumprindo os requisitos do acordo nuclear assinado em 2015. Segundo ele, o acordo é falho, porque suas exigências começam a vencer a partir de 2020 e o tratado não aborda questões como a influência do Irã da região e o programa de mísseis do país. Mas em vez de imediatamente rasgar o acordo e impor sanções, ele incumbiu o Congresso de achar alguma solução, seja por meio de imposição de novas sanções ou de medidas que prevejam um gatilho para imposição de penalidades.
As tensões entre milícias apoiadas pelo Irã na Síria e Iraque e forças americanas também crescem, na medida em que o inimigo comum, o Estado Islâmico, vai saindo da jogada.
Os iranianos acham que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Israel estão em conluio para acirrar os conflitos da região e empurrar EUA e Irã para um confronto
15/12/2017 02h10
Por Patricia Campos Mello
O risco de um confronto entre os Estados Unidos e o Irã atingiu o "nível crítico", segundo o centro de resolução de conflitos International Crisis Group (ICG).
O ICG desenvolveu uma ferramenta chamada "Lista de gatilhos Irã-Estados Unidos", que monitora e tenta medir a probabilidade de choques entre os dois países e seus aliados. No momento, o Iêmen é o maior fator de risco para um choque entre EUA e Irã, atingindo nível crítico (a escala vai do risco mais alto, crítico, e passa por severo, substancial, moderado e baixo).
O relatório do ICG, divulgado na quinta-feira (14), aponta que a escalada no conflito no Iêmen - rebeldes houthis apoiados pelo Irã lutam contra o governo do presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, com apoio da Arábia Saudita, que, por sua vez, é aliada dos Estados Unidos - tem grande probabilidade de evoluir para um confronto intencional ou acidental, direto ou indireto entre os iranianos e os americanos.
O Iêmen vive uma guerra civil desde 2015, com mais de 10 mil mortos. As tensões entre Irã e Arábia Saudita se exacerbaram no dia 4 novembro deste ano, quando houthis no Iêmen lançaram um míssil balístico de longo alcance contra a capital saudita, Riadh. Foi o ataque que chegou mais perto de atingir um grande centro urbano no país.
A Arábia Saudita afirmou que o Irã havia fornecido o míssil para os rebeldes e classificou o ataque como "ato de guerra". O ataque também mostrou que outros países do Golfo, aliados dos sauditas, estão no alcance de possíveis mísseis lançados pelos houthis.
Nesta quinta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, convocou uma entrevista coletiva e mostrou o que chamou de "provas irrefutáveis" de que o Irã forneceu aos houthis o míssil lançado contra Riadh, além de outros armamentos.
"É difícil achar algum conflito ou facção terrorista no Oriente Médio que não tenha as impressões digitais do Irã", disse Haley, ao mostrar restos chamuscados de um míssil, que seria aquele disparado contra o aeroporto em Riadh, além de um drone e armamentos anti-tanques recuperados no Iêmen pela Arábia Saudita.
A embaixadora acusou o Irã de desrespeitar resoluções da ONU que proíbem o fornecimento de armas para os rebeldes no Iêmen.
"Vocês verão que nós vamos construir uma coalizão para contra atacar o Irã", disse.
A missão do Irã na ONU afirmou que as acusações dos EUA eram "irresponsáveis, provocadoras, destrutivas e fabricadas".
Haley acusa o Irã de fornecer armas também para Síria e Líbano.
Ela exortou o Conselho de Segurança da ONU a impor sanções contra o Irã, apontando que o país, caso comprovado o auxílio aos houthis, teria violado resoluções do órgão.
Mas a Rússia e a China, membros permanentes do CS e, portanto, com poder de veto, dificilmente aprovariam essas sanções contra o Irã.
A acusação de Haley abre caminho para um possível ataque dos EUA a alvos houthis dentro do Iêmen - o que poderia gerar um aumento do apoio dos iranianos aos rebeldes ou retaliações de milícias xiitas contra forças americanas na Síria ou Iraque.
Segundo o ICG, não está clara a magnitude do apoio do Irã aos houthis e se Teerã tem poder de controlá-los, uma vez que os rebeldes já ignoraram sugestões iranianas no passado. "Isso significa que o Irã pode pagar um preço por ações de um grupo aliado que não controla", diz o relatório do grupo.
Além da crise do Iêmen, há vários outros focos de atrito entre o Irã e os EUA e seus aliados. Em outubro, o presidente Donald Trump recusou-se a certificar que o Irã vinha cumprindo os requisitos do acordo nuclear assinado em 2015. Segundo ele, o acordo é falho, porque suas exigências começam a vencer a partir de 2020 e o tratado não aborda questões como a influência do Irã da região e o programa de mísseis do país. Mas em vez de imediatamente rasgar o acordo e impor sanções, ele incumbiu o Congresso de achar alguma solução, seja por meio de imposição de novas sanções ou de medidas que prevejam um gatilho para imposição de penalidades.
As tensões entre milícias apoiadas pelo Irã na Síria e Iraque e forças americanas também crescem, na medida em que o inimigo comum, o Estado Islâmico, vai saindo da jogada.
Os iranianos acham que a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e Israel estão em conluio para acirrar os conflitos da região e empurrar EUA e Irã para um confronto
Labels:
Arábia Saudita,
Ásia,
China,
EAU,
EUA,
Geopolítica,
Iêmen,
Irã,
Iraque,
Israel,
Líbano,
Oriente Médio,
Política Internacional,
Relações Internacionais,
Rússia,
Síria
quinta-feira, 14 de dezembro de 2017
Armas dos EUA ajudaram EI na 'revolução industrial do terrorismo'
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1943357-armas-dos-eua-ajudaram-ei-na-revolucao-industrial-do-terrorismo.shtml
ALEX HORTON
DO "WASHINGTON POST"
14/12/2017 18h46
O Estado Islâmico pode se destacar por sua brutalidade no Iraque e na Síria, onde organizou massacres de civis e atentados com homens-bomba e explodiu residências com milhares de explosivos improvisados. Mas um novo relatório, que levou três anos em elaboração, descreve o grupo como hábeis fabricantes e planejadores logísticos que movimentaram armas, munições e materiais para a fabricação de bombas por toda a zona de guerra, em uma escala sem precedentes para uma organização terrorista.
O grupo de rastreamento de armas Conflict Armament Research (CAR), sediado no Reino Unido, documentou mais de 40 mil armas de fogo e munições em todo o Iraque e a Síria, enviando investigadores em campo em um arco que vai da cidade de Kobane, no norte da Síria, ao sul de Bagdá, a capital iraquiana –um desenho aproximado do percurso do Estado Islâmico para conquistar amplas áreas de território e estabelecer seu califado.
O relatório, que os pesquisadores chamam de o mais abrangente até hoje sobre como o EI obteve e remeteu suas armas, foi publicado na quinta-feira (14) e poderá se tornar um instrumento vital para se compreender a eficácia mortífera industrial do grupo terrorista. Aqui estão alguns exemplos:
– O EI usou foguetes fornecidos pelos EUA –possivelmente violando acordos com os fabricantes de armas.
Como relatou "The Washington Post" em julho, o governo Trump pôs fim a uma operação secreta da CIA para armar rebeldes sírios moderados que combatiam o presidente Bashar al Assad. Poucos detalhes sobre que armas eles receberam são conhecidos pelo público, mas os pesquisadores encontraram diversos foguetes no Iraque que parecem ter sido comprados pelos EUA e fornecidos a grupos sírios.
Em um caso, foguetes PG-9 de 73mm, vendidos por fabricantes romenos ao Exército dos EUA em 2013 e 2014, foram encontrados espalhados em ambos os campos de batalha.
Contêineres com números de lotes iguais foram encontrados no leste da Síria e recuperados em um comboio do EI na cidade iraquiana de Fallujah, diz o relatório. Os foguetes, adaptados pelo EI para usar em seus lançadores, deu aos militantes uma arma potente contra os tanques e Humvees blindados fornecidos pelos EUA.
Registros obtidos pelo CAR de autoridades romenas incluem acordos indicando que os EUA não reexportariam essas e outras armas, como parte da tentativa de conter o tráfico de armas. A Arábia Saudita foi outra fonte de transferências de armas não autorizadas para a Síria, diz o relatório.
O documento afirma que o governo americano não respondeu a pedidos para rastrear estas e outras armas documentadas pelo CAR. Um porta-voz do Departamento da Defesa não respondeu aos pedidos de comentários.
– O EI levou apenas algumas semanas para pôr as mãos nos mísseis antitanques americanos.
Em 12 de dezembro de 2015, a Bulgária exportou tubos lançadores de mísseis antitanques para o Exército americano por meio de uma companhia sediada em Indiana chamada Kiesler Police Supply.
Cinquenta e nove dias depois, a polícia federal do Iraque capturou os restos de uma dessas armas depois de uma batalha em Ramadi, no Iraque, segundo o relatório.
Em outro caso, um grupo rebelde apoiado pelos EUA na Síria foi fotografado usando um tubo lançador com um número de lote idêntico, indicando que provavelmente veio da mesma remessa, segundo o relatório.
O episódio ilustra quão rapidamente as armas fornecidas pelos EUA podem ser voltadas contra seus aliados, remodelar um campo de batalha e representar perigo para as pequenas equipes de tropas especiais dos EUA que habitualmente viajam em veículos despreparados para suportar armas antitanques.
– Operações e experimentação em escala industrial foram chaves para espalhar morte e medo.
Os investigadores do CAR notaram que materiais como pasta de alumínio e outros precursores químicos da Turquia usados para fazer cargas de morteiros e foguetes foram encontrados em Tikrit, Mossul, Fallujah e outros locais no Iraque.
Isso significa uma robusta operação logística para entregar matérias-primas a pesquisadores e engenheiros do EI utilizando máquinas industriais e produzindo componentes para munições, diz o relatório.
"Isso confirma minha teoria de que esta é a revolução industrial do terrorismo", disse recentemente Damien Spleeters, diretor de operações do CAR no Iraque e na Síria, à revista "Wired". "E para isso eles precisam de matérias-primas em quantidades industriais."
Os militantes também modificaram alguns foguetes disparados do ombro usando materiais para reduzir a gravidade do calor dos lançamentos de foguetes, que é perigoso em espaços urbanos fechados, relatou a "Wired".
– A propaganda do EI mostrando rifles americanos foi exagerada.
Vídeos e imagens de pequenas armas feitas pelos EUA capturadas pelo EI, especialmente rifles de serviço M16 e M4, são apresentados com destaque em vídeos de propaganda para divulgar a derrota de grupos armados e treinados por pessoal dos EUA.
Enquanto essas armas parecem ter sido entregues a comandantes como troféus de guerra, a documentação do CAR concluiu que não houve um grande influxo de rifles feitos nos EUA no campo de batalha.
Só 3% das armas e 13% da munição documentada por pesquisadores do CAR eram calibres de acordo com a Otan, como o cartucho de 5.56mm usado em M16s e em países europeus ocidentais. Virtualmente todas as outras armas e munições vieram da China, Rússia e países do Leste Europeu.
Os motivos são simples: as tropas sírias e muitas forças iraquianas adotam rifles AK47 e metralhadoras como a RPK, que usam munição de 7.62mm produzida por antigos regimes comunistas.
O fornecimento de armas tiradas do campo de batalha era compatível com a chegada constante de carregamentos de munição 7.62, tornando as armas do tipo AK47 as preferidas pelos combatentes do EI.
– O Irã foi responsável por inundar o Iraque de foguetes durante as operações contra o EI.
Bulgária, Irã e Romênia produziram a maior parte dos novos foguetes de 73mm recuperados do EI, diz o relatório.
Mas a injeção de novos foguetes antitanques iranianos é uma medida sutil de como Teerã ganhou influência no auge das operações contra o EI, seu adversário ideológico.
Quase todos os foguetes iranianos recuperados do EI no Iraque foram produzidos depois de 2014, com 59% fabricados só em 2015, diz o relatório, fluindo para oeste no período mais instável no Iraque durante o conflito.
A presença dessas armas pode indicar pelo menos algumas vitórias do EI e a captura de equipamento pertencente às Forças de Mobilização Popular do Iraque, que incluem milícias armadas e treinadas por assessores militares do Irã. Grupos apoiados pelo Irã também foram usados por Assad na Síria para reforçar seu Exército debilitado.
Tradução de LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES
ALEX HORTON
DO "WASHINGTON POST"
14/12/2017 18h46
O Estado Islâmico pode se destacar por sua brutalidade no Iraque e na Síria, onde organizou massacres de civis e atentados com homens-bomba e explodiu residências com milhares de explosivos improvisados. Mas um novo relatório, que levou três anos em elaboração, descreve o grupo como hábeis fabricantes e planejadores logísticos que movimentaram armas, munições e materiais para a fabricação de bombas por toda a zona de guerra, em uma escala sem precedentes para uma organização terrorista.
O grupo de rastreamento de armas Conflict Armament Research (CAR), sediado no Reino Unido, documentou mais de 40 mil armas de fogo e munições em todo o Iraque e a Síria, enviando investigadores em campo em um arco que vai da cidade de Kobane, no norte da Síria, ao sul de Bagdá, a capital iraquiana –um desenho aproximado do percurso do Estado Islâmico para conquistar amplas áreas de território e estabelecer seu califado.
O relatório, que os pesquisadores chamam de o mais abrangente até hoje sobre como o EI obteve e remeteu suas armas, foi publicado na quinta-feira (14) e poderá se tornar um instrumento vital para se compreender a eficácia mortífera industrial do grupo terrorista. Aqui estão alguns exemplos:
– O EI usou foguetes fornecidos pelos EUA –possivelmente violando acordos com os fabricantes de armas.
Como relatou "The Washington Post" em julho, o governo Trump pôs fim a uma operação secreta da CIA para armar rebeldes sírios moderados que combatiam o presidente Bashar al Assad. Poucos detalhes sobre que armas eles receberam são conhecidos pelo público, mas os pesquisadores encontraram diversos foguetes no Iraque que parecem ter sido comprados pelos EUA e fornecidos a grupos sírios.
Em um caso, foguetes PG-9 de 73mm, vendidos por fabricantes romenos ao Exército dos EUA em 2013 e 2014, foram encontrados espalhados em ambos os campos de batalha.
Contêineres com números de lotes iguais foram encontrados no leste da Síria e recuperados em um comboio do EI na cidade iraquiana de Fallujah, diz o relatório. Os foguetes, adaptados pelo EI para usar em seus lançadores, deu aos militantes uma arma potente contra os tanques e Humvees blindados fornecidos pelos EUA.
Registros obtidos pelo CAR de autoridades romenas incluem acordos indicando que os EUA não reexportariam essas e outras armas, como parte da tentativa de conter o tráfico de armas. A Arábia Saudita foi outra fonte de transferências de armas não autorizadas para a Síria, diz o relatório.
O documento afirma que o governo americano não respondeu a pedidos para rastrear estas e outras armas documentadas pelo CAR. Um porta-voz do Departamento da Defesa não respondeu aos pedidos de comentários.
– O EI levou apenas algumas semanas para pôr as mãos nos mísseis antitanques americanos.
Em 12 de dezembro de 2015, a Bulgária exportou tubos lançadores de mísseis antitanques para o Exército americano por meio de uma companhia sediada em Indiana chamada Kiesler Police Supply.
Cinquenta e nove dias depois, a polícia federal do Iraque capturou os restos de uma dessas armas depois de uma batalha em Ramadi, no Iraque, segundo o relatório.
Em outro caso, um grupo rebelde apoiado pelos EUA na Síria foi fotografado usando um tubo lançador com um número de lote idêntico, indicando que provavelmente veio da mesma remessa, segundo o relatório.
O episódio ilustra quão rapidamente as armas fornecidas pelos EUA podem ser voltadas contra seus aliados, remodelar um campo de batalha e representar perigo para as pequenas equipes de tropas especiais dos EUA que habitualmente viajam em veículos despreparados para suportar armas antitanques.
– Operações e experimentação em escala industrial foram chaves para espalhar morte e medo.
Os investigadores do CAR notaram que materiais como pasta de alumínio e outros precursores químicos da Turquia usados para fazer cargas de morteiros e foguetes foram encontrados em Tikrit, Mossul, Fallujah e outros locais no Iraque.
Isso significa uma robusta operação logística para entregar matérias-primas a pesquisadores e engenheiros do EI utilizando máquinas industriais e produzindo componentes para munições, diz o relatório.
"Isso confirma minha teoria de que esta é a revolução industrial do terrorismo", disse recentemente Damien Spleeters, diretor de operações do CAR no Iraque e na Síria, à revista "Wired". "E para isso eles precisam de matérias-primas em quantidades industriais."
Os militantes também modificaram alguns foguetes disparados do ombro usando materiais para reduzir a gravidade do calor dos lançamentos de foguetes, que é perigoso em espaços urbanos fechados, relatou a "Wired".
– A propaganda do EI mostrando rifles americanos foi exagerada.
Vídeos e imagens de pequenas armas feitas pelos EUA capturadas pelo EI, especialmente rifles de serviço M16 e M4, são apresentados com destaque em vídeos de propaganda para divulgar a derrota de grupos armados e treinados por pessoal dos EUA.
Enquanto essas armas parecem ter sido entregues a comandantes como troféus de guerra, a documentação do CAR concluiu que não houve um grande influxo de rifles feitos nos EUA no campo de batalha.
Só 3% das armas e 13% da munição documentada por pesquisadores do CAR eram calibres de acordo com a Otan, como o cartucho de 5.56mm usado em M16s e em países europeus ocidentais. Virtualmente todas as outras armas e munições vieram da China, Rússia e países do Leste Europeu.
Os motivos são simples: as tropas sírias e muitas forças iraquianas adotam rifles AK47 e metralhadoras como a RPK, que usam munição de 7.62mm produzida por antigos regimes comunistas.
O fornecimento de armas tiradas do campo de batalha era compatível com a chegada constante de carregamentos de munição 7.62, tornando as armas do tipo AK47 as preferidas pelos combatentes do EI.
– O Irã foi responsável por inundar o Iraque de foguetes durante as operações contra o EI.
Bulgária, Irã e Romênia produziram a maior parte dos novos foguetes de 73mm recuperados do EI, diz o relatório.
Mas a injeção de novos foguetes antitanques iranianos é uma medida sutil de como Teerã ganhou influência no auge das operações contra o EI, seu adversário ideológico.
Quase todos os foguetes iranianos recuperados do EI no Iraque foram produzidos depois de 2014, com 59% fabricados só em 2015, diz o relatório, fluindo para oeste no período mais instável no Iraque durante o conflito.
A presença dessas armas pode indicar pelo menos algumas vitórias do EI e a captura de equipamento pertencente às Forças de Mobilização Popular do Iraque, que incluem milícias armadas e treinadas por assessores militares do Irã. Grupos apoiados pelo Irã também foram usados por Assad na Síria para reforçar seu Exército debilitado.
Tradução de LUIZ ROBERTO MENDES GONÇALVES
quarta-feira, 13 de dezembro de 2017
Turquia, China e Egito têm 50% dos jornalistas presos no mundo, diz ONG
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1942880-turquia-china-e-egito-tem-50-dos-jornalistas-presos-no-mundo-diz-ong.shtml
DE SÃO PAULO
13/12/2017 03h02
O Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ) critica os governos dos EUA e da União Europeia por não pressionarem os países com maior número de prisões de profissionais da imprensa, que atingiu novo recorde neste ano.
Em relatório a ser divulgado nesta quarta-feira (13), a organização afirma que Turquia, China e Egito concentram metade dos 262 jornalistas encarcerados no mundo entre janeiro e novembro —maior número da série histórica, iniciada em 1990.
As autoridades turcas continuam na liderança das prisões, com 73, no que o CPJ vê como uma continuidade da pressão contra a imprensa após o golpe frustrado contra o líder do país, Recep Tayyip Erdogan, em julho de 2016.
A maioria dos presos foi acusada com base na lei antiterrorismo por suposta relação com o Movimento Hizmet, do líder religioso Fethullah Gülen, considerado pelo mandatário turco o mentor da tentativa de derrubá-lo.
"O CPJ tem entendido que os governos usam leis antiterrorismo amplas e vagas para intimidar e silenciar jornalistas críticos. Em muitos casos, as medidas legais confundem a cobertura da atividade terrorista com o apoio a ela."
Para o CPJ, os países europeus, especialmente os membros da Otan, minimizam as críticas porque "estão vinculados pelo papel turco em abrigar refugiados sírios e outros acordos de cooperação".
"Enquanto isso, [o presidente dos EUA, Donald] Trump o recebeu na Casa Branca em maio e recentemente o chamou de amigo."
O republicano também é criticado por não citar a questão dos direitos humanos na China, com 38 jornalistas presos, e no Egito, com 20.
O presidente americano se encontrou duas vezes com o dirigente chinês, Xi Jinping, a última em novembro, e outras duas com o mandatário egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.
No caso chinês, a organização atribui a omissão à influência de Pequim em relação à Coreia do Norte, diante das ameaças do regime de Kim Jong-un. Também cita a aprovação de uma lei antiterrorista que aprofunda a repressão contra a imprensa logo após a visita de Sisi à Casa Branca, em abril.
'FAKE NEWS'
O CPJ ainda repudia a atuação de Donald Trump por sua "retórica nacionalista, fixação com o extremismo islâmico e insistência em chamar a mídia crítica de 'fake news'". Para o comitê, isso reforça "a estrutura de acusações e indiciamentos que permitem àqueles líderes impulsionar a prisão de jornalistas".
DE SÃO PAULO
13/12/2017 03h02
O Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ) critica os governos dos EUA e da União Europeia por não pressionarem os países com maior número de prisões de profissionais da imprensa, que atingiu novo recorde neste ano.
Em relatório a ser divulgado nesta quarta-feira (13), a organização afirma que Turquia, China e Egito concentram metade dos 262 jornalistas encarcerados no mundo entre janeiro e novembro —maior número da série histórica, iniciada em 1990.
As autoridades turcas continuam na liderança das prisões, com 73, no que o CPJ vê como uma continuidade da pressão contra a imprensa após o golpe frustrado contra o líder do país, Recep Tayyip Erdogan, em julho de 2016.
A maioria dos presos foi acusada com base na lei antiterrorismo por suposta relação com o Movimento Hizmet, do líder religioso Fethullah Gülen, considerado pelo mandatário turco o mentor da tentativa de derrubá-lo.
"O CPJ tem entendido que os governos usam leis antiterrorismo amplas e vagas para intimidar e silenciar jornalistas críticos. Em muitos casos, as medidas legais confundem a cobertura da atividade terrorista com o apoio a ela."
Para o CPJ, os países europeus, especialmente os membros da Otan, minimizam as críticas porque "estão vinculados pelo papel turco em abrigar refugiados sírios e outros acordos de cooperação".
"Enquanto isso, [o presidente dos EUA, Donald] Trump o recebeu na Casa Branca em maio e recentemente o chamou de amigo."
O republicano também é criticado por não citar a questão dos direitos humanos na China, com 38 jornalistas presos, e no Egito, com 20.
O presidente americano se encontrou duas vezes com o dirigente chinês, Xi Jinping, a última em novembro, e outras duas com o mandatário egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.
No caso chinês, a organização atribui a omissão à influência de Pequim em relação à Coreia do Norte, diante das ameaças do regime de Kim Jong-un. Também cita a aprovação de uma lei antiterrorista que aprofunda a repressão contra a imprensa logo após a visita de Sisi à Casa Branca, em abril.
'FAKE NEWS'
O CPJ ainda repudia a atuação de Donald Trump por sua "retórica nacionalista, fixação com o extremismo islâmico e insistência em chamar a mídia crítica de 'fake news'". Para o comitê, isso reforça "a estrutura de acusações e indiciamentos que permitem àqueles líderes impulsionar a prisão de jornalistas".
quinta-feira, 7 de dezembro de 2017
Israel recebe anúncio de Trump sobre Jerusalém com euforia e medo
Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/12/1941343-israel-recebe-anuncio-de-trump-sobre-jerusalem-com-euforia-e-medo.shtml
DANIELA KRESCH
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM TEL AVIV
07/12/2017 02h00
Num misto de ansiedade, euforia e temor, Israel contou as horas, nesta quarta-feira (6), para o discurso em que o presidente americano Donald Trump reconheceria Jerusalém como capital do país.
Políticos e analistas se dividiram entre o entusiasmo da direita e o nervosismo do centro e da esquerda. A grande maioria dos ouvidos pela imprensa local disse apoiar a decisão de Trump, mesmo que com divergências sobre a forma de pô-la em prática.
Ninguém esconde o temor de que a decisão leve a uma escalada na violência regional. Apesar disso, representantes da direita saudaram:
"É um presente, uma grande vitória do sionismo, que conecta Jerusalém formalmente ao resto do país aos olhos do mundo", disse o ministro dos Transportes e da Inteligência, Yisrael Katz, do governista Likud, referindo-se à resolução da ONU que estabelece Jerusalém como "corpus separatum", cidade sob regime internacional.
"Hoje é um dia de festa, um evento histórico. É comparável à Declaração Balfour", completou o parlamentar Yehuda Glick, representante da ala mais à direita do Likud, lembrando o documento em que os ingleses atestavam ver "com bons olhos" a criação de um Estado judeu no território da Palestina histórica (na época, Israel, territórios palestinos e Jordânia).
Durante todo o dia, rádios, TVs e sites da internet tentaram prever o que Trump diria. Analistas e especialistas israelenses, palestinos e estrangeiros foram entrevistados, bem como políticos, ativistas e líderes de ONGs.
O pronunciamento de Trump foi analisado com lupa na mídia. Para alguns, a direita engoliu alguns sapos, como o fato de que Trump não se referiu a Jerusalém como cidade unificada —entendimento corrente em Israel desde a tomada da cidade, na Guerra dos Seis Dias (1967).
Por meio dessa omissão, Trump teria, na prática, posto Jerusalém na mesa de negociações com os palestinos para uma possível divisão entre lados ocidental e oriental.
A esquerda, por outro lado, tinha esperança de que a decisão de Trump fosse acompanhada de uma nova e clara iniciativa de paz.
"Fiquei emocionada com o discurso. Mas ficou faltando esclarecer se ele vai colocar a mão na massa para criar dois Estados", disse a ex-chanceler Tzipi Livni, do Campo Sionista (centro-esquerda).
O mesmo acredita o ex-embaixador dos Estados Unidos, Daniel Shapiro, para quem Trump se atrapalhou ao fazer a declaração sem consulta prévia a dirigentes árabes.
"Trata-se de uma oportunidade perdida. Reconhecer a capital sem transferir a embaixada imediatamente ou anunciar novas negociações de paz não leva ao gol final de alcançar dois Estados. O resultado é uma medida apenas retórica. Ele criou uma tempestade em copo d'água."
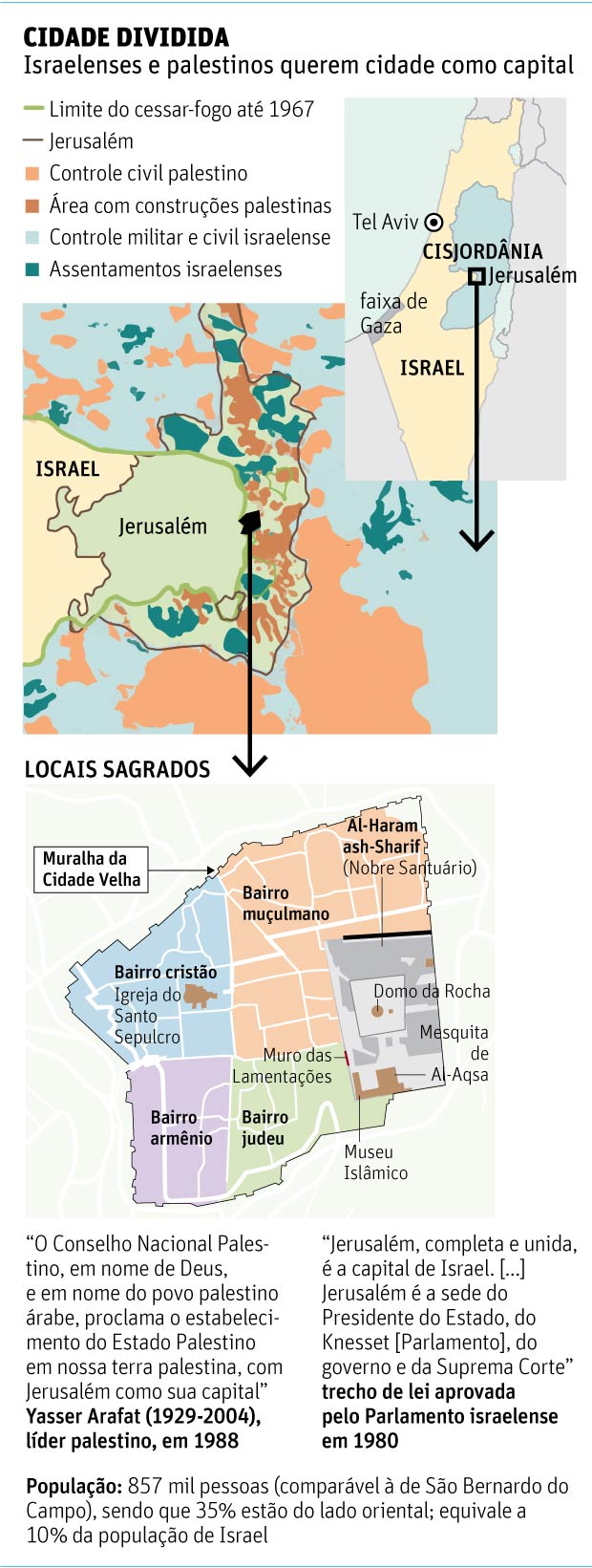
DANIELA KRESCH
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM TEL AVIV
07/12/2017 02h00
Num misto de ansiedade, euforia e temor, Israel contou as horas, nesta quarta-feira (6), para o discurso em que o presidente americano Donald Trump reconheceria Jerusalém como capital do país.
Políticos e analistas se dividiram entre o entusiasmo da direita e o nervosismo do centro e da esquerda. A grande maioria dos ouvidos pela imprensa local disse apoiar a decisão de Trump, mesmo que com divergências sobre a forma de pô-la em prática.
Ninguém esconde o temor de que a decisão leve a uma escalada na violência regional. Apesar disso, representantes da direita saudaram:
"É um presente, uma grande vitória do sionismo, que conecta Jerusalém formalmente ao resto do país aos olhos do mundo", disse o ministro dos Transportes e da Inteligência, Yisrael Katz, do governista Likud, referindo-se à resolução da ONU que estabelece Jerusalém como "corpus separatum", cidade sob regime internacional.
"Hoje é um dia de festa, um evento histórico. É comparável à Declaração Balfour", completou o parlamentar Yehuda Glick, representante da ala mais à direita do Likud, lembrando o documento em que os ingleses atestavam ver "com bons olhos" a criação de um Estado judeu no território da Palestina histórica (na época, Israel, territórios palestinos e Jordânia).
Durante todo o dia, rádios, TVs e sites da internet tentaram prever o que Trump diria. Analistas e especialistas israelenses, palestinos e estrangeiros foram entrevistados, bem como políticos, ativistas e líderes de ONGs.
O pronunciamento de Trump foi analisado com lupa na mídia. Para alguns, a direita engoliu alguns sapos, como o fato de que Trump não se referiu a Jerusalém como cidade unificada —entendimento corrente em Israel desde a tomada da cidade, na Guerra dos Seis Dias (1967).
Por meio dessa omissão, Trump teria, na prática, posto Jerusalém na mesa de negociações com os palestinos para uma possível divisão entre lados ocidental e oriental.
A esquerda, por outro lado, tinha esperança de que a decisão de Trump fosse acompanhada de uma nova e clara iniciativa de paz.
"Fiquei emocionada com o discurso. Mas ficou faltando esclarecer se ele vai colocar a mão na massa para criar dois Estados", disse a ex-chanceler Tzipi Livni, do Campo Sionista (centro-esquerda).
O mesmo acredita o ex-embaixador dos Estados Unidos, Daniel Shapiro, para quem Trump se atrapalhou ao fazer a declaração sem consulta prévia a dirigentes árabes.
"Trata-se de uma oportunidade perdida. Reconhecer a capital sem transferir a embaixada imediatamente ou anunciar novas negociações de paz não leva ao gol final de alcançar dois Estados. O resultado é uma medida apenas retórica. Ele criou uma tempestade em copo d'água."
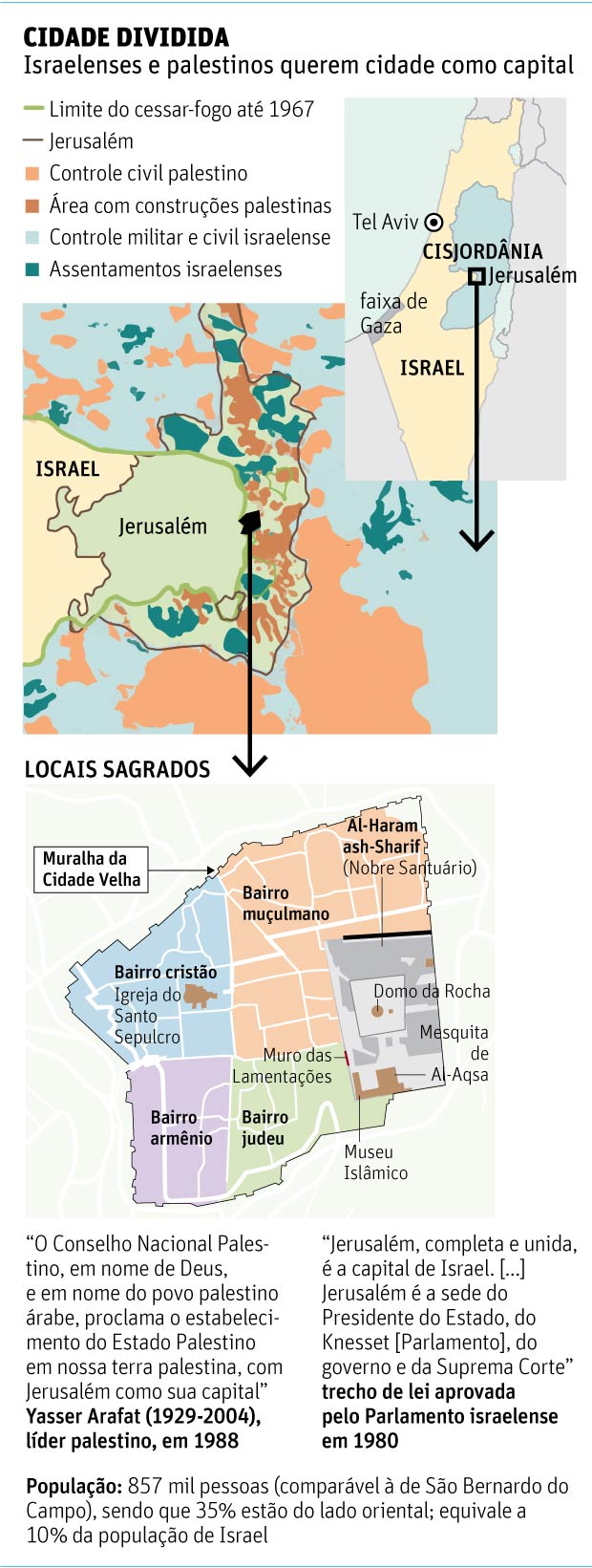
domingo, 3 de dezembro de 2017
Antes de Cabral, Amazônia teve mais de 8 milhões de índios
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2015/12/1714263-antes-de-cabral-amazonia-chegou-a-ter-10-milhoes-de-indios.shtml
REINALDO JOSÉ LOPES
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
03/12/2015 02h00
Amazônia, berço de civilizações? Se a expressão soa estranha aos seus ouvidos, é porque as descobertas recentes sobre o passado da maior floresta tropical do mundo ainda não tinham sido reunidas num conjunto coerente.
Um grupo de pesquisadores brasileiros e americanos fez exatamente isso -e concluiu que, antes de Cabral, a região amazônica já estava fortemente "domesticada", e não intocada, como muita gente acredita.
As conclusões da equipe, liderada por Charles Clement, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus) estão em artigo na revista científica britânica "Proceedings B".
Os dados mais recentes apontam, segundo eles, que mais de 80 espécies de plantas selvagens foram transformadas em cultivos agrícolas pelos povos nativos da Amazônia -as mais conhecidas são o cacau, a batata-doce, a mandioca, o tabaco e o abacaxi, além das que ainda são tipicamente amazônicas, como o açaí e o cupuaçu.
A impressionante lista de lavouras "inventadas" pelos indígenas conta só parte da história, porém. Os habitantes originais da região parecem ter domesticado, em certo sentido, até as florestas aparentemente não habitadas por seres humanos.
Isso acontece porque esses povos manejavam a distribuição natural de espécies da mata, favorecendo a predominância de espécies que eram úteis para eles, como as castanheiras que produzem a castanha-do-pará.
Ao longo do tempo, além das plantações propriamente ditas, eles passaram a ficar cercados por "florestas antropogênicas" (ou seja, geradas em grande medida pela ação humana) que facilitavam um bocado sua vida.
GENTE PARA TODO LADO
Esse processo de progressiva domesticação da mata teria ganhado impulso a partir de uns 4.000 anos atrás e, com o tempo, encheu a região com uma população respeitável. Os pesquisadores calculam que a Amazônia pré-cabralina teria abrigado ao menos 8 milhões de habitantes -um número que só seria alcançado pelo Brasil "branco" (somando os moradores de todas as regiões do país) no fim do século 19, segundo dados do IBGE.
A presença de toda essa gente está sinalizada por indícios arqueológicos espalhados de leste a oeste e de norte a sul do território amazônico. Na ilha de Marajó, na foz do Amazonas, um sistema de morros artificiais e uma cerâmica requintada sugerem uma cultura com ampla mão de obra e hierarquia social, com artistas semiespecializados, por exemplo.
Perto da fronteira com o cerrado, a região do Xingu guarda restos de amplas estradas, diques e paliçadas defensivas e manejo intensivo dos rios para a captura de peixes em larga escala. E o Acre conta com os misteriosos geoglifos, formas geométricas que podem ser vistas de avião e podem representar estruturas cerimoniais ou defensivas.
Para gerações mais antigas de arqueólogos, tudo isso seria considerado impossível, por uma razão simples: o solo amazônico seria pobre demais para garantir a produção agrícola indispensável ao sustento de uma população densa. As descobertas mais recentes têm mostrado que esse cenário é simplista, diz Wenceslau Teixeira, pesquisador da Embrapa Solos e coautor da pesquisa.
"Um dos grandes problemas da agricultura tropical é a falta de uma reserva de nutrientes no solo. Chove muito e esses nutrientes são lavados -os efeitos da adubação não duram. Acontece que os caras [antigos habitantes da Amazônia] conseguiram criar um solo fértil nesse ambiente", resume Teixeira.
TERRA PRETA
O nome dessa "arma secreta" da agricultura pré-histórica da Amazônia é terra preta -um solo escuro, como sugere o nome, e rico em matéria orgânica.
Calcula-se que ele cubra pouco mais de 0,1% da região -o que parece pouco mas, dado o gigantismo da área e a fertilidade da terra preta, foi o suficiente para impulsionar o crescimento populacional dos povos nativos.
Segundo o pesquisador da Embrapa, ainda não está totalmente claro como a terra preta era criada. "Provavelmente era um sistema de manejo de resíduos. Mais tarde, eles podem ter percebido o potencial desse solo para lavoura", diz o pesquisador.
Entre os "ingredientes" estavam restos de animais consumidos pelos indígenas e carvão vegetal, queimado de forma controlada, que ajudava a reter carbono no solo.
Ele lembra, porém, que a terra preta não era uma panaceia generalizada -no Acre, por exemplo, apesar dos indícios de grupos com vida social complexa, ela não parece ter sido usada para turbinar a produção agrícola.
Assinam ainda o estudo Eduardo Neves, arqueólogo da USP, e o antropólogo Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, entre outros especialistas.

REINALDO JOSÉ LOPES
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
03/12/2015 02h00
Amazônia, berço de civilizações? Se a expressão soa estranha aos seus ouvidos, é porque as descobertas recentes sobre o passado da maior floresta tropical do mundo ainda não tinham sido reunidas num conjunto coerente.
Um grupo de pesquisadores brasileiros e americanos fez exatamente isso -e concluiu que, antes de Cabral, a região amazônica já estava fortemente "domesticada", e não intocada, como muita gente acredita.
As conclusões da equipe, liderada por Charles Clement, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus) estão em artigo na revista científica britânica "Proceedings B".
Os dados mais recentes apontam, segundo eles, que mais de 80 espécies de plantas selvagens foram transformadas em cultivos agrícolas pelos povos nativos da Amazônia -as mais conhecidas são o cacau, a batata-doce, a mandioca, o tabaco e o abacaxi, além das que ainda são tipicamente amazônicas, como o açaí e o cupuaçu.
A impressionante lista de lavouras "inventadas" pelos indígenas conta só parte da história, porém. Os habitantes originais da região parecem ter domesticado, em certo sentido, até as florestas aparentemente não habitadas por seres humanos.
Isso acontece porque esses povos manejavam a distribuição natural de espécies da mata, favorecendo a predominância de espécies que eram úteis para eles, como as castanheiras que produzem a castanha-do-pará.
Ao longo do tempo, além das plantações propriamente ditas, eles passaram a ficar cercados por "florestas antropogênicas" (ou seja, geradas em grande medida pela ação humana) que facilitavam um bocado sua vida.
GENTE PARA TODO LADO
Esse processo de progressiva domesticação da mata teria ganhado impulso a partir de uns 4.000 anos atrás e, com o tempo, encheu a região com uma população respeitável. Os pesquisadores calculam que a Amazônia pré-cabralina teria abrigado ao menos 8 milhões de habitantes -um número que só seria alcançado pelo Brasil "branco" (somando os moradores de todas as regiões do país) no fim do século 19, segundo dados do IBGE.
A presença de toda essa gente está sinalizada por indícios arqueológicos espalhados de leste a oeste e de norte a sul do território amazônico. Na ilha de Marajó, na foz do Amazonas, um sistema de morros artificiais e uma cerâmica requintada sugerem uma cultura com ampla mão de obra e hierarquia social, com artistas semiespecializados, por exemplo.
Perto da fronteira com o cerrado, a região do Xingu guarda restos de amplas estradas, diques e paliçadas defensivas e manejo intensivo dos rios para a captura de peixes em larga escala. E o Acre conta com os misteriosos geoglifos, formas geométricas que podem ser vistas de avião e podem representar estruturas cerimoniais ou defensivas.
Para gerações mais antigas de arqueólogos, tudo isso seria considerado impossível, por uma razão simples: o solo amazônico seria pobre demais para garantir a produção agrícola indispensável ao sustento de uma população densa. As descobertas mais recentes têm mostrado que esse cenário é simplista, diz Wenceslau Teixeira, pesquisador da Embrapa Solos e coautor da pesquisa.
"Um dos grandes problemas da agricultura tropical é a falta de uma reserva de nutrientes no solo. Chove muito e esses nutrientes são lavados -os efeitos da adubação não duram. Acontece que os caras [antigos habitantes da Amazônia] conseguiram criar um solo fértil nesse ambiente", resume Teixeira.
TERRA PRETA
O nome dessa "arma secreta" da agricultura pré-histórica da Amazônia é terra preta -um solo escuro, como sugere o nome, e rico em matéria orgânica.
Calcula-se que ele cubra pouco mais de 0,1% da região -o que parece pouco mas, dado o gigantismo da área e a fertilidade da terra preta, foi o suficiente para impulsionar o crescimento populacional dos povos nativos.
Segundo o pesquisador da Embrapa, ainda não está totalmente claro como a terra preta era criada. "Provavelmente era um sistema de manejo de resíduos. Mais tarde, eles podem ter percebido o potencial desse solo para lavoura", diz o pesquisador.
Entre os "ingredientes" estavam restos de animais consumidos pelos indígenas e carvão vegetal, queimado de forma controlada, que ajudava a reter carbono no solo.
Ele lembra, porém, que a terra preta não era uma panaceia generalizada -no Acre, por exemplo, apesar dos indícios de grupos com vida social complexa, ela não parece ter sido usada para turbinar a produção agrícola.
Assinam ainda o estudo Eduardo Neves, arqueólogo da USP, e o antropólogo Michael Heckenberger, da Universidade da Flórida, entre outros especialistas.

Assinar:
Postagens (Atom)